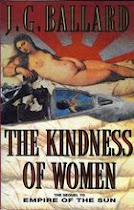A MENSAGEM FOTOGRÁFICA*
Roland Barthes
A fotografia de imprensa é uma mensagem. O conjunto desta mensagem é constituído por uma fonte emissora, um canal de transmissão e um meio receptor. A fonte emissora é constituída pela redacção do jornal, o grupo dos técnicos dos quais alguns tiram a fotografia, outros escolhem-na, compõem-na, tratam-na, e finalmente outros lhe dão um título, a legendam e comentam. O meio receptor é o público que lê o jornal. E o canal de transmissão é o próprio jornal, ou, mais exactamente, um complexo de mensagens concorrentes, das quais a fotografia é o centro, mas cujos contornos são constituídos pelo texto, pelo título, pela legenda, pela paginação e, de uma forma mais abstracta mas não menos «informante», pelo nome do jornal (porque este nome constitui um saber que pode inflectir fortemente a leitura da mensagem propriamente dita: uma fotografia pode mudar o seu sentido passando do Aurore para o L’Humanité). Estas constatações não são indiferentes, dado que vemos bem que aqui as três partes tradicionais da mensagem não convocam o mesmo método de exploração; a emissão e a recepção da mensagem relevam totalmente de uma sociologia: trata-se de estudar os grupos humanos, de definir os motivos, as atitudes, e ensaiar uma forma de ligar comportamentos destes grupos à sociedade no seu todo do qual eles fazem parte. Mas para a mensagem em si mesma, o método tem de ser diferente: quaisquer que sejam a origem e o destino da mensagem, a fotografia não é apenas um produto ou uma via; é também um objecto, e como tal dotado de uma autonomia estrutural; sem pretender de forma alguma apartar este objecto do seu uso, é necessário prever aqui um método particular, anterior à análise sociológica em si mesma, e que não pode ser senão a análise imanente desta estrutura original que é uma fotografia.
Naturalmente, mesmo tendo em vista uma análise puramente imanente, a estrutura da fotografia não é uma estrutura isolada; ela comunica pelo menos com uma outra, que é o texto (título, legenda ou artigo) de que qualquer fotografia de imprensa vem acompanhada. A totalidade da informação é portanto suportada por duas estruturas diferentes (das quais uma é linguística); estas duas estruturas são concorrentes, mas como as suas unidades são heterogéneas, não podem misturar-se; aqui (no texto), a substância da mensagem é constituída por palavras; lá (na fotografia), por linhas, superfícies, tons. Além disso, as duas estruturas da mensagem ocupam espaços reservados, contíguos, mas não «homogeneizados», como por exemplo num jogo em que se fundem numa única linha palavras e imagens. Também, apesar de não haverem fotografias de imprensa sem comentário escrito, a análise deve incidir, em primeiro lugar, sobre cada uma das estruturas separadamente; não é senão quando tivermos esgotado o estudo de cada estrutura que poderemos compreender o modo como elas se completam. Nestas estruturas, uma é já conhecida, a da língua (mas não é, na verdade, a da «literatura» aquela que constitui a palavra do jornal: fica ainda sobre este ponto muito trabalho para fazer); o outro, o da fotografia propriamente dita, é mais ou menos desconhecido. Limitar-nos-emos aqui a definir as primeiras dificuldades de uma análise estrutural da mensagem fotográfica.
O paradoxo fotográfico.
Qual o conteúdo da mensagem fotográfica? O que é que a fotografia transmite? Por definição, a própria cena, o real literal. Do objecto à sua imagem há, certamente, uma redução: de proporção, de perspectiva e de cor. Mas esta redução não é em momento algum uma transformação (no sentido matemático do termo); para passar do real à sua fotografia, não é absolutamente necessário decompor esse real em unidades e tornar essas unidades em signos substancialmente diferentes do objecto que é mostrado; entre esse objecto e a sua imagem, não é de modo nenhum necessário usar um dispositivo, isto é, um código; certamente a imagem não é o real, mas é pelo menos o seu analogon perfeito; e é precisamente por essa perfeição analógica que o senso comum define a fotografia. O estatuto particular da imagem fotográfica aparece-nos assim como uma mensagem sem código; desta proposição resulta imediatamente um corolário importante: a mensagem fotográfica é uma mensagem contínua.
Será que existem outras mensagens sem código? À primeira vista, sim: são precisamente todas as representações analógicas da realidade: o desenho, a pintura, o cinema e o teatro. Todavia, cada uma dessas mensagens desenvolve de um modo imediato e evidente, além do próprio conteúdo analógico (cena, objecto, paisagem), uma mensagem suplementar, aquilo que se designa normalmente por estilo da reprodução; trata-se dum segundo sentido, cujo significante é um certo «tratamento» da imagem pelo seu criador, e cujo significado, estético ou ideológico, remete para uma certa cultura da sociedade a da mensagem. Em resumo, todas estas artes imitativascomportam duas mensagens: uma mensagem denotada, o próprio analogon, e uma mensagem conotada, maneira de que se serve a sociedade para mostrar, numa certa medida, o que ela pensa. Esta dualidade de mensagens é evidente em todas as reproduções não fotográficas: não existe um desenho, por mais exacto que seja, cuja própria exactidão não se torne um estilo («verista»); não há cena filmada, cuja objectividade não seja lida como o próprio signo da objectividade. Mesmo aqui, está ainda por fazer o estudo dessas imagens conotadas (torna-se necessário decidir se o que se chama de obra de arte se pode reduzir a um sistema de significados); o que contudo se pode prever é que em todas estas artes imitativas, quando semelhantes, o código do sistema conotado é possivelmente constituído seja por um simbolismo universal seja por uma retórica de época: em resumo, por uma reserva de estereótipos (esquemas, cores, grafismos, gestos, expressões, grupos de elementos).
Ora, em princípio nada disso se aplica à fotografia, pelo menos à fotografia de imprensa, que nunca é uma fotografia «artística». Tomando-se a fotografia como analogia mecânica do real, a sua primeira mensagem enche, de certa maneira, completamente a sua substância e não deixa nenhum lugar para o desenvolvimento de uma segunda mensagem. Em suma, de todas as estruturas de informação, a fotografia seria a única exclusivamente constituída e ocupada por uma mensagem «denotada», que esgotaria completamente o seu ser; face a uma fotografia, o sentimento de «denotação», ou, se se preferir, de plenitude analógica, é tão forte que a descrição de uma fotografia se torna literalmente impossível, uma vez que «descrever» consiste precisamente em juntar à mensagem denotada um dispositivo ou uma segunda mensagem, tirada de um código que é a língua, e que constitui fatalmente, por muito cuidado que se tenha para ser exacto, uma conotação em relação ao análogo fotográfico. Não que se trate, ao descrever, de ser somente inexacto ou incompleto; é mudar de estrutura, é significar outra coisa que não aquilo que é mostrado. Ora, esse estatuto puramente «denotante» da fotografia, a perfeição e a plenitude da sua analogia, em suma a sua «objectividade», tudo isso corre o risco de se tornar mítico (são essas as características que o senso comum encontra na fotografia), dado que, com efeito, há uma forte probabilidade (e isso seria uma hipótese de trabalho) para que a mensagem fotográfica (pelo menos a mensagem da imprensa) seja também ela conotada. A conotação não se deixa necessariamente captar de imediato ao nível da própria mensagem (ela é, se se quiser, ao mesmo tempo invisível e activa, clara e implícita), mas já se podem daí induzir certos fenómenos que ocorrem ao nível da produção e da recepção da mensagem: por um lado, uma fotografia de imprensa é um objecto trabalhado, escolhido, composto, construído, tratado segundo as normas profissionais, estéticas ou ideológicas, que são também factores de conotação; e, por outro lado, essa mesma fotografia não é somente apreendida, recebida; ela é lida, ligada mais ou menos conscientemente, pelo público que a consome, a uma reserva tradicional de signos. Ora, qualquer signo pressupõe um código, e é esse código (de conotação) que é necessário tentar estabelecer. O paradoxo fotográfico estaria então na coexistência de duas mensagens, uma sem código (que seria a analogia fotográfica), e outra com código (que seria a «arte», ou o tratamento, ou a «escritura», ou a retórica da fotografia). Estruturalmente, o paradoxo não é evidentemente a colisão de uma mensagem denotada e de uma mensagem conotada: aqui temos o estatuto provavelmente fatal de todas as comunicações de massa; é que a mensagem conotada (ou codificada) se desenvolve aqui a partir de uma mensagem sem código. Este paradoxo estrutural coincide com um paradoxo ético: quando queremos ser «neutros, objectivos», esforçamo-nos por copiar minuciosamente o real, como se a analogia fosse um factor de resistência ao investimento dos valores (esta é pelo menos a definição do «realismo» estético): como é que a fotografia pode então, ao mesmo tempo, ser «objectiva» e «investida», natural e cultural? Quando se esclarecer o modo de imbricação da mensagem denotada e da mensagem conotada será então possível responder a essa questão. Mas para tentar fazer esse trabalho torna-se necessário não esquecer que, na fotografia, a mensagem denotada, sendo absolutamente analógica — isto é, privada de qualquer recurso a um código —, é ainda contínua, não existindo maneira de procurar as unidades significantes da primeira mensagem; pelo contrário, a mensagem conotada permite facilmente um plano de expressão e um plano de conteúdo, significantes e significados: obriga por isso a uma verdadeira decifração. Essa decifração seria actualmente prematura, porque para isolar as unidades significantes e os temas (ou valores) significados, seria necessário proceder (talvez por testes) a leituras dirigidas, fazendo variar artificialmente certos elementos da fotografia para poder observar como as variações da forma desencadeiam variações de sentido. Pelo menos por agora, podemos prever os principais planos de análise da conotação fotográfica.
Os processos de conotação.
A conotação, isto é, a imposição de um segundo sentido à mensagem fotográfica propriamente dita, é elaborada nos diferentes níveis da produção da fotografia (escolha, tratamento técnico, enquadramento, mise en page): trata-se, em resumo, de uma codificação da analogia fotográfica, tornando-se, por isso, possível isolar os processos de conotação; mas esses processos, é bom recordar, nada têm a ver com as unidades de significação, como uma análise do tipo semântico permitirá talvez um dia estabelecer; não fazem parte, a bem dizer, da estrutura fotográfica. Uma vez que os processos são conhecidos limitar-nos-emos a traduzi-los em termos estruturais. Em rigor, seria necessário separar os três primeiros (trucagem, pose, objectos) dos três últimos (fotogenia, estetismo, sintaxe), porque nos três primeiros processos a conotação é produzida por uma modificação do próprio real, isto é, duma mensagem denotada (este aparelho não pertence evidentemente à fotografia); se contudo os incluímos nos processos de conotação fotográfica é porque também beneficiam do prestígio da denotação: a fotografia permite que o fotógrafo se esquive à preparação que ele faz da cena que vai captar; o que não significa, do ponto de vista de uma análise estrutural ulterior, que com segurança seja possível validar esse material.
1. Trucagem.
Em 1951, uma fotografia largamente difundida na imprensa americana custou o lugar, segundo se disse, ao senador Millard Tydings; esta fotografia representava o senador conversando com o líder comunista Earl Browder. Tratava-se, com efeito, de uma fotografia trucada, constituída por uma aproximação artificial das duas caras. O interesse metódico da trucagem reside na sua intervenção no interior do próprio plano da denotação, sem que disso sejamos prevenidos; ela utiliza a credibilidade particular da fotografia, que tem, como vimos, um poder excepcional de denotação, para fazer passar como simplesmente denotada uma mensagem que é de facto fortemente conotada; em nenhum outro tratamento a conotação se torna de modo tão completo a máscara «objectiva» da denotação. Naturalmente, a significação só é possível na medida em que há uma reserva de signos, um esboço de código; aqui, o significante é a atitude de conversação das duas personagens; note-se que essa atitude só se torna signo para uma certa sociedade, isto é, somente ao abrigo de certos valores; é o anticomunismo orgulhoso do eleitorado americano aquilo que faz do gesto dos interlocutores o signo de uma familiaridade repreensível, isto é, o código de conotação não é nem artificial (como numa língua verdadeira) nem natural: é histórico.
2. Pose.
Tomemos uma fotografia de imprensa largamente difundida nas últimas eleições americanas: o busto do presidente Kennedy, visto de perfil, com os olhos no céu, de mãos postas. Aqui, é a própria pose do sujeito que prepara a leitura dos significados da conotação: juventude, espiritualidade, pureza; evidentemente, a fotografia só é significante porque existe uma reserva de atitudes estereotipadas que constituem os elementos já feitos de significação (olhar o céu, mãos postas); uma «gramática histórica» da conotação iconográfica deveria, pois, procurar os seus materiais na pintura, no teatro, nas associações de ideias, nas metáforas correntes, etc., isto é, precisamente na «cultura». Como dissemos, a pose não é um processo especificamente fotográfico, mas é difícil não nos referirmos a ela, na medida em que alcança o seu efeito graças ao princípio analógico que está na base da fotografia: a mensagem não é aqui «a pose», e sim «Kennedy a orar»; o leitor recebe como uma simples denotação aquilo que, na verdade, é uma estrutura dupla, denotada-conotada.
3. Objectos.
É preciso reconhecer a importância daquilo a que se poderia chamar a pose dos objectos, visto que o sentido conotado surge então dos objectos fotografados (quer se tenha disposto artificialmente estes objectos em frente da objectiva, se o fotógrafo esteve para isso, quer o paginador tenha escolhido, entre várias fotografias, uma certa deste ou daquele objecto). O interesse reside no facto de estes objectos serem indutores correntes de associações de ideias (biblioteca = intelectual), ou, de um modo mais obscuro, de autênticos símbolos (a porta da câmara de gás de Chessmann remete para a porta fúnebre das antigas mitologias). Estes objectos constituem excelentes elementos de significação; por um lado, são descontínuos e completos em si mesmos, o que é para um signo uma qualidade física; e, por outro, remetem para significados claros, conhecidos: são, pois, elementos de um verdadeiro léxico, de tal modo estáveis que facilmente os poderemos constituir em sintaxe. Vejamos, por exemplo, uma composição de objectos: uma janela aberta para telhados de telha, uma paisagem de vinhedos; em frente da janela, um álbum de fotografias, uma lupa, um vaso de flores; estamos, pois, no campo, no Sul do Loire (vinhas e telhas), numa moradia burguesa (flores em cima da mesa), cujo hóspede de certa idade (lupa) revive as suas recordações (álbum de fotografias); é François Mauriac em Malagar (no Paris-Match); a conotação «sai» mais ou menos de todas estas unidades significantes, mas «captadas» como se tratasse de uma cena imediata e espontânea, isto é, insignificante; encontramo-la explicitada no texto, que desenvolve o tema das raízes telúricas de Mauriac. O objecto talvez já não possua uma força, mas possui seguramente um sentido.
4. Fotogenia.
Foi já feita a teoria da fotogenia (Edgar Morin em O Cinema ou o Homem Imaginário), e não é esta a ocasião de nos debruçarmos sobre a significação geral deste processo. Bastará definir a fotogenia enquanto estrutura informativa: na fotogenia, a mensagem conotada existe na própria imagem, captada «embelezada» (isto é, em geral sublimada) por técnicas de iluminação, de impressão e de tiragem. Dever-se-iam inventariar estas técnicas, mesmo que fosse apenas pelo facto de a cada uma corresponder um significado de conotação suficientemente constante para ser incorporada num léxico cultural dos «efeitos» técnicos (por exemplo, o flou de movimento ou file, lançado pela equipa do Dr. Steinert par significar o espaço-tempo). Aliás, este inventário seria um meio excelente para distinguir os efeitos estéticos dos efeitos significantes, salvo para reconhecer talvez que em fotografia, contrariamente às intenções dos fotógrafos de exposição, nunca há arte, mas sempre sentido — o que precisamente oporia finalmente segundo um critério preciso a boa pintura, mesmo que fortemente figurativa, à fotografia.
5. Esteticismo.
Isto porque se podemos falar de esteticismo em fotografia, é, parece, de uma maneira ambígua: sempre que a fotografia se faz pintura, isto é, composição ou substância visual deliberadamente tratada «na paleta», é ou para se significar a ela própria como «arte» (é o caso do «picturalismo» do princípio do século) ou para se impor um significado geralmente mais subtil e mais complexo do que o permitiriam outros processos de conotação; Cartier-Bresson construiu assim a recepção do cardeal Pacelli pelos fiéis de Lisieux como um quadro de um velho mestre, mas esta fotografia não é de modo nenhum um quadro; por um lado, o esteticismo ostentado remete (maliciosamente) para a própria ideia de quadro (o que é contrário a toda a pintura autêntica) e, por outro, a composição significa aqui, de um modo declarado, uma certa espiritualidade extática, traduzida precisamente enquanto espectáculo objectivo. Aliás, vemos aqui a diferença entre a fotografia e a pintura: no quadro de um Primitivo, a «espiritualidade» não é de modo nenhum um significado, mas, se assim se pode dizer, o próprio ser da imagem; com efeito, pode haver em certas pinturas elementos de código, figuras de retórica, símbolos de época; mas nenhuma unidade significante remete para a espiritualidade, que é uma maneira de ser, não o objecto de uma mensagem estruturada.
6. Sintaxe.
Já falámos aqui de uma leitura discursiva de objectos-signos no interior de uma mesma fotografia; naturalmente, várias fotografias podem constituir-se em sequência (é o caso corrente nas revistas ilustradas); o significante de conotação já não se encontra então ao nível de nenhum dos fragmentos da sequência, mas no nível (supra-segmental, diriam os linguistas) do encadeamento. Vejamos quatro instantâneos de uma caçada presidencial em Rambouillet: em cada tiro o ilustre caçador (Vicent Auriol) aponta a espingarda para uma direcção imprevista, com grande perigo para os guardas que fogem ou se lançam por terra: a sequência (e só a sequência) dá a ler um efeito cómico, que surge, segundo um processo bem conhecido, da repetição e da variação das atitudes. A propósito disto, é preciso notar que a fotografia solitária muito raramente (isto é, muito dificilmente) é cómica, contrariamente ao desenho; o cómico tem necessidade de movimento, isto é, de repetição (o que é fácil no cinema), ou de tipificação (o que é possível no desenho), estando estas duas «conotações» interditas à fotografia.
O texto e a imagem.
São estes os principais processos de conotação da imagem fotográfica (uma vez mais, trata-se de técnicas, não de unidades). Podemos acrescentar-lhes, de um modo constante, o próprio texto que acompanha a fotografia de imprensa. Aqui, é preciso fazer três observações.
Em primeiro lugar, esta: o texto constitui uma mensagem parasita, destinada a conotar a imagem, isto é, a «insuflar-lhe» um ou vários significados segundos. Por outras palavras, e é uma inversão histórica importante, a imagem já não ilustra a palavra; é a palavra que, estruturalmente, é parasita da imagem. Esta inversão tem o seu preço: nos modos tradicionais de «ilustração», a imagem funcionava como um regresso episódico à denotação a partir de uma mensagem principal (o texto) que era sentido como conotado, visto que, precisamente, ele tinha necessidade de uma ilustração; na relação actual, a imagem não vem esclarecer ou «realizar» a palavra: é a palavra que vem sublimar, patetizar ou racionalizar a imagem. Mas como esta operação se faz a título acessório, o novo conjunto afirmativo parece principalmente fundado numa mensagem objectiva (denotada), cuja palavra não é senão uma espécie de vibração segunda, quase inconsequente; antigamente, a imagem ilustrava o texto (tornava-o mais claro); hoje, o texto sobrecarrega a imagem, confere-lhe uma cultura, uma moral, uma imaginação; antigamente, havia redução do texto à imagem, hoje há amplificação da imagem ao texto: a conotação já não é vivida senão como ressonância natural da denotação fundamental constituída pela analogia fotográfica. Estamos, pois, perante um processo caracterizado como naturalização do cultural.
Outra observação: o efeito de conotação é provavelmente diferente consoante o modo de apresentação da palavra; quanto mais a palavra está próxima da imagem, menos parece conotá-la; captada, por assim dizer, pela mensagem iconográfica, a mensagem verbal parece participar na sua objectividade, a conotação da linguagem «torna-se inocente» através da denotação da fotografia; é verdade que não há nunca uma verdadeira incorporação, visto que as substâncias das duas estruturas (aqui gráfica, ali icónica) são irredutíveis; mas há provavelmente graus na amálgama; a legenda tem provavelmente um efeito de conotação menos evidente do que o título ou o artigo; título e artigo separam-se sensivelmente da imagem, o título pela grafia, o artigo pela distância, um porque rompe, o outro porque afasta o conteúdo da imagem; pelo contrário, a legenda, pela sua própria disposição, pela sua medida média de leitura, parece duplicar a imagem, isto é, participar na sua denotação.
Contudo, é impossível (e esta será a última observação a propósito do texto) que a palavra «duplique» a imagem, pois na passagem de uma estrutura a outra elaboram-se fatalmente significados segundos. Qual é a relação destes significados de conotação com a imagem? Trata-se, aparentemente, de uma explicitação, isto é, em certa medida, de uma ênfase, com efeito junto de conotações já incluídas na fotografia; mas, por vezes, também o texto produz (inventa) um significado inteiramente novo e que é de certo modo projectado retroactivamente na imagem, a ponto de parecer denotado: «Viram a morte, prova-o a expressão do rosto», diz o título de uma fotografia onde se vê a rainha Isabel e o príncipe Filipe descer do avião; contudo, no momento da fotografia, estas duas personagens ignoravam ainda tudo do acidente aéreo do qual acabavam de escapar. Por vezes também a palavra pode ir ao ponto de contradizer a imagem de maneira a produzir uma conotação compensatória; uma análise de Gerbner (The Social Anatomy of the Romance Confession Cover-Girl) provou que em certas revistas sentimentais a mensagem verbal dos títulos de capa (de conteúdo sombrio e angustiante) acompanhava sempre a imagem de uma cover-girl radiante. As duas mensagens entram aqui em compromisso: a conotação tem uma função regularizadora, preserva o jogo irracional da projecção-identificação.
A insignificância fotográfica.
Vimos que o código de conotação não era provavelmente nem «natural» nem «artificial», mas histórico, ou, se preferirmos, «cultural»: os signos são aí gestos, atitudes, expressões, cores ou efeitos, dotados de certos sentidos em virtude do uso de uma certa sociedade: a ligação entre o significante e o significado, isto é, bem vistas as coisas, a própria significação, permanece, se não imotivada, pelo menos inteiramente histórica. Não podemos, pois, dizer que o homem moderno projecta na leitura da fotografia sentimentos e valores que dizem respeito ao carácter ou que são eternos, isto é, infra ou trans-históricos, a não ser que se precise bem que a significação, essa, é sempre elaborada por uma sociedade e uma história definidas; a significação é, em suma, o movimento dialéctico que resolve a contradição entre o homem cultural e o homem natural. Graças ao seu código de conotação, a leitura da fotografia é pois sempre histórica; ela depende do «saber» do leitor, como se se tratasse de uma língua verdadeira, inteligível apenas se se soubessem os signos. No fim de contas, a «linguagem» fotográfica acaba por lembrar certas línguas ideográficas em que unidades analógicas e unidades sinaléticas estão misturadas, com a única diferença de que o ideograma é vivido como um signo, enquanto a «cópia» fotográfica passa pela denotação pura e simples da realidade. Encontrar esse código de conotação seria pois isolar, inventariar e estruturar todos os elementos «históricos» da fotografia, todas as partes da superfície fotográfica que obtêm o seu descontínuo até de um certo saber do leitor, ou, se preferirmos, da sua situação cultural.
Ora, nesta tarefa será preciso talvez ir ainda mais longe. Nada diz que haja na fotografia partes «neutras», ou pelo menos a insignificância completa da fotografia talvez seja completamente excepcional; para resolver este problema, seria preciso, em primeiro lugar, esclarecer completamente os mecanismos de leitura (no sentido físico e já não semântico do termo) ou, se quisermos, de percepção da fotografia; ora, quanto a este ponto, não sabemos grande coisa: como lemos nós uma fotografia? Que captamos? Em que ordem, segundo que itinerário? O que é captar? Se, segundo certas hipóteses de Bruner e Piaget, não há percepção sem categorização imediata, a fotografia é verbalizada no próprio momento em que é captada ou, ainda melhor, ela só é percebida quando verbalizada (ou, se a verbalização tarda, há desordem da percepção, interrogação, angústia do sujeito, traumatismo, segundo a hipótese de G. Cohen-Séat a propósito da percepção fílmica). Nesta perspectiva, a imagem, aprisionada imediatamente por uma metalinguagem interior, que é a língua, não conheceria, em suma, nenhum estado denotado; não existiria socialmente senão imersa pelo menos numa primeira conotação, aquela mesma das categorias da língua; e sabemos que toda a língua toma partido sobre as coisas, que ela conota o real, mesmo que não o faça senão ao distingui-lo; as conotações da fotografia coincidiriam pois, grosso modo, com os grandes planos de conotação da linguagem.
Assim, além da conotação «perceptiva», hipotética mas possível, encontrar-se-iam então modos de conotação mais particulares. Em primeiro lugar, uma conotação «cognitiva», cujos significantes seriam escolhidos, localizados em certas partes do analogon: perante uma certa vista de cidade, eu sei que estou num país norte-africano, porque vejo à esquerda uma tabuleta em caracteres arábicos, ao centro um homem de albornoz, etc.; a leitura depende aqui estreitamente da minha cultura, do meu conhecimento do mundo, e é provável que uma boa fotografia de imprensa (e todas elas o são, visto que são seleccionadas) se sirva facilmente do saber suposto dos seus leitores, ao escolher as provas que comportam a maior quantidade possível de informação deste género, de maneira a euforizar a leitura; quando se fotografa Agadir destruída, vale mais dispor de alguns signos de «arabidade», embora a «arabidade» nada tenha a ver com o próprio desastre, uma vez que a conotação proveniente do saber é sempre uma força tranquilizadora: o homem ama os signos e de preferência aqueles que são claros.
Conotação perceptiva, conotação cognitiva: fica o problema da conotação ideológica (no sentido mais amplo do termo) ou ética, a que introduz na leitura da imagem razões ou valores. E uma conotação forte exige um significante muito elaborado, de preferência de ordem sintáctica: encontro de personagens (vimo-lo a propósito da trucagem), desenvolvimento de atitudes, constelação de objectos. O filho do Xá do Irão acaba de nascer; na fotografia está: a realeza (berço adorado por uma multidão de criados que o rodeiam), a riqueza (várias amas), a higiene (batas brancas, tecto do berço em plexiglass), a condição humana dos reis (apesar de tudo o bebé chora), isto é, todos os elementos contraditórios do mito principesco estão presentes, tal como os consumimos hoje. Trata-se aqui de valores apolíticos, e o léxico é rico e claro nisso; é possível (mas é apenas uma hipótese), que ao contrário a conotação política seja a maior parte das vezes confiada ao texto, na medida em que as escolhas políticas são sempre, se assim o podemos dizer, de má-fé: duma fotografia posso dar uma leitura de esquerda ou de direita (ver sobre este assunto um inquérito do IFOP, publicado pelos Les temps modernes, em 1955); a denotação, ou a sua aparência, é uma força impotente para modificar as opções políticas: nunca nenhuma fotografia convenceu ou desmentiu ninguém (mas ela pode «confirmar»), na medida em que a consciência política é talvez inexistente fora do logos: a política é o que permite todas as linguagens.
Estas breves observações esboçam uma espécie de quadro diferencial das conotações fotográficas; vemos, de qualquer modo, que a conotação nos leva bastante longe. O mesmo é dizer que uma pura denotação, um aquém da linguagem, é impossível? Se ela existe talvez não seja ao nível daquilo a que a linguagem corrente chama o insignificante, o neutro, o objectivo, mas, muito pelo contrário, ao nível das imagens propriamente traumáticas: o trauma é precisamente o que suspende a linguagem e bloqueia a significação. Sem dúvida, situações normalmente traumáticas podem ser captadas num processo de significação fotográfica; mas é precisamente então que elas são assinaladas através de um código retórico que as distancia, as sublima, as apazigua. As fotografias propriamente traumáticas são raras, pois, em fotografia, o trauma é inteiramente tributário da certeza de que a cena realmente se passou; era preciso que o fotógrafo estivesse lá (é a definição mítica da denotação); mas dito isto (que, a falar verdade, é já uma conotação), a fotografia traumática (incêndios, naufrágios, catástrofes, mortes violentas — tiradas ao vivo) é aquela de que não há nada a dizer; a foto-choque é pela sua própria estrutura insignificante: nenhum valor, nenhum saber, em último caso nenhuma categorização verbal podem ter domínio sobre o processo institucional da significação. Poderíamos imaginar uma espécie de lei: quanto mais o trauma é directo, mais a conotação é difícil; ou ainda: o efeito «mitológico» de uma fotografia é inversamente proporcional ao seu efeito traumático.
Porquê? É que sem dúvida, como toda a significação bem estruturada, a conotação fotográfica é uma actividade institucional; à escala da sociedade total, a sua função é integrar o homem, isto é, tranquilizá-lo; todo o código é ao mesmo tempo arbitrário e racional; todo o recurso a um código é pois uma maneira de o homem se afirmar, de se pôr à prova através de uma razão e de uma liberdade. Neste sentido, a análise dos códigos talvez permita definir historicamente uma sociedade com mais facilidade e segurança do que a análise dos seus significados, porque estes podem aparecer muitas vezes como trans-históricos, pertencendo a um fundo antropológico mais do que a uma autêntica história: Hegel definiu melhor os antigos Gregos ao delinear a maneira como eles faziam significar a natureza do que ao descrever o conjunto dos seus «sentimentos e crenças» sobre este assunto. Assim, talvez devamos fazer mais do que inventariar directamente os conteúdos ideológicos do nosso tempo, pois, ao tentarmos reconstituir na sua estrutura específica o código de conotação de uma comunicação tão ampla como a fotografia de imprensa, podemos esperar encontrar, na sua própria delicadeza, as formas de que a nossa sociedade se serve para se tranquilizar, e através disso agarrar a medida, os desvios e a função profunda deste esforço: perspectiva tanto mais fascinante, como dissemos no princípio, quanto, no que diz respeito à fotografia, ela se desenvolve sob a forma de um paradoxo: aquele que faz de um objecto inerte uma linguagem e que transforma a incultura de uma arte mecânica na mais social das instituições.