Era o primeiro a chegar à redacção. A meio da manhã, escondido atrás da secretária, junto à janela, um texto já estava feito. De um lado, um bloco de notas com as ideias alinhadas, a escrita rápida, meio inclinada, mas segura; do outro, um dicionário – de português, de francês, de cinema – para qualquer dúvida que surgisse. Era o que mais gostava no jornalismo. Escrever. Podia ser sobre qualquer assunto, uns mais do que outros, é certo, mas se alguma informação tivesse de ser acrescentada ao seu BI seria essa: gosta de escrever. As mãos bem presas ao teclado, que produzia um som contínuo, só suspenso por alguns momentos para cofiar a barba, para uma passa no cachimbo ou para escolher a palavra exacta. E o Zé Manel era jornalista de palavras exactas, de palavras certas. Não lhe interessavam os lugares comuns, as ideias feitas, as expressões alheias. Construía o seu próprio léxico, que era eminentemente oral, metido à sorrelfa a meio das conversas de todos os dias, mas que depois era construído, reconstruído e sublimado pelo savoir-faire do artífice da escrita em que se tornava quando se sentava ao computador, à máquina de escrever, quando se via com uma caneta na mão.
Deixou cinco volumes de memórias, a que chamou Prova de Vida. Os três primeiros, com a chancela da Quimera, do seu amigo José Carlos Alfaro, tiveram, por decisão do autor, uma tiragem reduzidíssima, não ultrapassando os 20 exemplares, distribuídos exclusivamente entre os familiares e os amigos mais próximos. Os volumes quatro e cinco, este último inacabado, não foram (ainda) impressos, estando os originais guardados em dossiers amarelos. No total, são quase 300 textos, com fragmentos de uma vida recordada entre o passado e o presente. O mote é sempre uma fotografia, que dá início à viagem no tempo.
Entrevistas, reportagens e crónicas eram os seus géneros jornalísticos de eleição, embora soubesse que a notícia e a breve são a base de tudo, entregando-se a elas com igual apego. Tinha uma inclinação especial para o fait divers, para a pequena história que a imprensa dita de referência abandonou, deixando-a nas mãos de um jornalismo sensacionalista. Qualquer assunto dava um bom artigo, o segredo era saber fazê-lo. Ir ao local, ouvir os protagonistas, estabelecer as ligações, dar a ver o que realmente aconteceu. E não exigia muitas letras gordas, dizia, nem fotografias com choros, desgostos e outras desgraças alheias. Apenas um repórter da «pena» e outro da «foto», sempre atentos, com faro e respeito pelos factos e pelas pessoas. Nada disto, porém, fazia do Zé Manel um advogado da académica «objectividade» jornalística. Era um defensor da «subjectividade», do homem ou da mulher, do editor ou do estagiário que dava corpo à assinatura que validava o texto. Que lhe dava identidade. Era o jornalista do eu, nu e cru perante o leitor. Sem subterfúgios.
Militou nos jornais durante 40 anos, depois de ter regressado da Guerra Colonial e de ter sido expulso do ensino. Uma paixão antiga, alimentada pelos jornais que o seu pai levava para casa, sempre que as economias permitiam. Era o tempo – as décadas de 40 e 50 – dos vespertinos e dos matutinos, das duas edições diárias. Recordava com particular carinho a 2.ª edição do Diário de Lisboa que o pai comprava após os jogos do Belenenses, o seu clube de sempre, já com a crónica do encontro. Era o tempo do jornalismo do imediato, muito antes da hegemonia da Internet, que o Zé Manel exemplificava com o exemplar d’A Capital do dia 25 de Abril de 1974. No canto inferior direito, na última página, lá estava uma breve a anunciar o golpe militar em curso e a Revolução que se avizinhava. «Na altura, os jornais fechavam às quatro da manhã», ironizava. Os factos esmagavam as sinergias.
Não se via como um profeta do antigamente, antes pelo contrário. Tomava como suas todas as épocas. Mas em relação ao jornalismo peremptório. As cedências foram muitas, e a maximização dos recursos trouxe poucos benefícios. E não havia computadores, ficheiros electrónicos, mails ou redes informáticas que substituíssem a sensação, que tantas vezes descrevia, de ir à cave do ‘Popular’ sujar as mãos a compor um texto. «A sentir a prosa». Ou a ver o prédio a tremer assim que a rotativa começava a trabalhar. Uma nova edição estava a caminho.
Começou como estagiário no Diário Popular, a 30 de Julho de 1968. Nesse dia inaugural, a primeira notícia que escreveu foi logo cortada pela Censura. Não seria a última. Passado um mês, ganhou o concurso de admissão e foi contratado. Na mesma altura sindicalizou-se. Trabalhou naquele jornal durante 20 anos, coordenando a secção Trabalho e, mais tarde, a da Cultura e Espectáculos. Aí teve a sua escola de jornalismo.
Foi depois para o Diário de Lisboa, no outro lado da Rua Luz Soriano, entre 1988 e 1990, onde foi chefe de redacção adjunto e coordenador da secção Cultura e Espectáculos. Quando este vespertino fechou (um dos maiores desgostos da sua vida), ingressou n’O Jornal, até 1992, e finalmente aqui no Jornal de Letras, onde foi editor até a doença o atingir e se reformar, no passado dia 10 de Outubro. «Os jornais são seres vivos e as Redacções são como famílias», dizia.
Repórter atirador especial
José Manuel Amaral Rodrigues da Silva nasceu no dia 1 de Outubro de 1939 – o ano do fim da Guerra Civil Espanhola, como sempre lembrava –, em Lisboa. Era a cidade que amava, a par de Paris. Conhecia-lhe as histórias, os cantos e recantos e muitos encantos, os nomes das ruas, os novos e os velhos, e dos bairros, os populares e os modernos, que explorava como um antropólogo urbano. Via nos transportes públicos, principalmente no metro das sete da manhã, uma tese de doutoramento em potência. Um documentário que nenhum realizador ousou fazer.
Cresceu na freguesia dos Anjos, para onde os seus pais, nascidos na província – a mãe, no concelho de Mangualde, o pai, em Oliveira do Hospital –, foram morar depois de se casarem. Fez a escola primária no Colégio Egas Moniz. Era conhecido por Bacigalupo, em homenagem ao guarda-redes do Torino, que morreu, juntamente com o resto da equipa italiana, num desastre de avião, quando andava na 4.ª classe. Seguiu-se o Liceu Camões, até completar o antigo 2.º ciclo.
Quando teve de escolher, seguiu o ramo Histórico-Filosóficas, o que o levou ao Liceu D. João de Castro e a uma das maiores influências da sua vida: o professor de Filosofia Augusto Abelaira. «A luz na idade das trevas», escreveu numa crónica publicada no JL após a morte do autor d’A Cidade das Flores. «As aulas eram de Filosofia e ele dava a matéria com exemplar rigor, mas o milagre era como, entre a Psicologia e a Lógica, a Teoria do Conhecimento e a Teodiceia, o Abelaira, em dois anos, conseguia falar de tudo o mais… e o tudo o mais é que era importante». Foi a descoberta da música, da poesia, da pintura, da literatura, do existencialismo, do realismo russo, das cidades de Itália. «O melhor professor que tive em toda a minha vida de estudante foi ele. Sobretudo porque, para além de tudo o resto, o que afinal me deu de maior foi ensinar-me a pensar e a pensar-me.»
O seu destino definiu-se nesses anos. Normalmente, os filhos da classe média, como era a sua – o pai trabalhava nas oficinas da Guarda Nacional Republicana, a mãe era doméstica –, seguiam um curso profissional. Mas os pais sempre apostaram na sua formação, ainda que o futuro não apresentasse garantias. O Zé Manel foi ultrapassando etapa a etapa, surpreendendo familiares e vizinhos. Ingressou na Faculdade de Letras (FL), para o curso de História, com a maioridade recém atingida. Foram anos intensos, feitos de tertúlias nos cafés, manifestações contra o regime, movimentos estudantis, muito cinema e alguns exames.
Participou activamente na crise académica de 1962, ao lado de José Medeiros Ferreira, Teresa Amado, Maria Benedita, Maria Antónia Fiadeiro, Ramos Lopes e Fernando Correia, todos do seu ano escolar. Fortaleceram as trincheiras alguns caloiros e outros estudantes, como Eduardo Prado Coelho, Maria Emília Brederode, Ana Maria Alves, Mário Sottomayor Cardia, Gastão Cruz, Fiama Hasse de Pais Brandão, Fernando J. B. Martinho, Vasco Pulido Valente ou Ruy Belo. No ano seguinte, era eleito vice-presidente da Comissão Pró-Associação de Estudantes da FL, presidida por Alberto Teixeira Ribeiro e, depois, por Teresa Amado.
Na verdade, o Zé Manel recusou ser presidente, atitude que o acompanhou ao longo de toda a vida. A liderança não o seduzia. Preferia os bastidores, e só aceitou chefiar uma secção, nos jornais por onde passou, por razões muito claras: «Porque sempre temi que um incompetente qualquer, quiçá arrogante (um defeito por norma atrai o outro) exercesse poder sobre mim. E, mais ainda do que sobre mim, sobre o que eu escrevia».
Esta recusa das altas patentes consolidou-se na tropa. Em Janeiro de 1964, iniciou o curso de Oficiais Milicianos, na Escola Prática de Infantaria, em Mafra (foi-lhe atribuída a especialidade de atirador, mesmo sendo míope…). A Guerra Colonial, ainda estar no início, era uma ameaça para qualquer jovem. A guia de marcha chegou a 21 de Maio de 1965: Moçambique, no navio Niassa. Ficou colocado na Companhia de Caçadores de Mocímboa da Praia, permanecendo no «mato», na frente de batalha, até Junho de 1966. Depois ficou um ano em Lourenço Marques, regressando a Lisboa, em 1967, já com a Ponte sobre o Tejo inaugurada, uma nova ligação para a Costa da Caparica, onde passou as férias na infância.
O que mais o impressionou em África foi a injustiça. Uma guerra sem sentido, por um ideal que não era o seu. Injustiça também no seio dos militares, na abissal diferença entre quem arrasta bandeiras num mapa, assim decidindo um ataque, e quem os sofre na pele e no terreno. «Tornei-me racista na guerra? Tornei, só que o meu ‘racismo’ não tem nada a ver com raças ou cores de pele, mas, isso sim, com o desprezo que passei a sentir por todos aqueles que são incapazes de fazer aquilo que ordenam que os outros façam, sobretudo quando isso implica risco», escreveu no seu livro de memórias. «Daí que hoje (de há muito), o jornalista que sou olhe de cima aquele que tem ideias e as não leva a prática, escrevendo. Daí que o jornalista que sou se considere, no fundo, cá bem no fundo, o alferes miliciano da infantaria do jornalismo, com a especialidade de repórter atirador especial.»
De volta à vida civil, gastou as suas últimas balas na docência. Foi professor de História no D. João de Castro. Uma experiência que acabou abruptamente. As suas liberdades pedagógicas – e opções políticas – não passaram desapercebidas à PIDE, que o proibiu de ensinar (Muito mais tarde, após o 25 de Abril, seria professor, mas de jornalismo, durante 12 anos, na Escola Secundária D. Pedro V). Chegava ao fim um ciclo da sua vida. Abria-se a porta dos jornais.
Sem arrependimentos
Se o jornalismo foi a sua casa, a Cultura foi o seu quarto. A sua grande paixão. Tudo convergia para aí. É verdade que se preocupava com a política – militou na UDP nas lutas contra o fascismo, embora tenha abandonado o partido depois do 25 de Abril, e teve uma participação activa no sindicato dos jornalistas. Por outro lado, olhava o mundo e Portugal pelo filtro da História. O século XIX, tema da sua tese de licenciatura, afigurava-se a sua bitola para analisar o presente.
Contudo, a sua vocação era a literatura, o cinema, a música e o teatro, desde os tempos dos cineclubes, dos livros emprestados entre amigos, das aulas do Secundário e da Faculdade. Tinha a casa – um autêntico museu, forrado de memórias e vivências – cheia de livros. Em lugar de destaque, junto à secretária, três obras: a Fotobiografia de Manoel de Oliveira, O Livro da Agustina e a edição comemorativa dos 25 anos da Cornucópia. E seria possível fazer um ciclo de cinema só a partir dos cartazes que tinha na parede. Era capaz de receber um livro de manhã e lê-lo de enfiada, ao correr das horas, independentemente do sítio em que se encontrasse. Eça, Camilo, Pessoa (antes do aparato dos estudos pessoanos e das descobertas da arca sem fundo, como brincava), Irene Lisboa, José Saramago, Herberto Helder, Lobo Antunes, em que viu, logo na obra de estreia, um grande escritor, pedindo-lhe a primeira entrevista, publicada em duas edições do Diário Popular; Sartre e Simone de Beauvoir, em particular a correspondência entre ambos, Marguerite Yourcenar, Tolstoi, de quem acabara de ler recentemente Guerra e Paz, pela quarta vez… Não esquecendo os policiais de Georges Simenon, Donna Leon, Henning Mankell e Aleksandra Marínina. A lista dos seus autores é infindável, e não tinha limitações. A curiosidade permanecia em aberto. Da História à Filosofia – foi o primeiro a chamar a atenção para o livro de José Gil, Portugal, Hoje, O Medo de Existir –, passando pela Sociologia, sobretudo os títulos de José Machado Pais, com quem partilhava o olhar sobre a sociedade contemporânea e as suas solidões.
Com o cinema tinha uma relação idiossincrática. Desde criança que se habituou a apontar todos os filmes que viu – quase cinco mil – na sua velha máquina de escrever, um hábito que nunca abandonou, nem quando recebeu um computador de presente. Houve uma altura, ainda no Diário Popular, em que os compromissos eram muitos durante a semana. Para remediar o problema, ao sábado entrava à tarde no Quarteto, o primeiro multiplex português, que tinha um pão-de-ló (do sr. Juvenal) que adorava. Só saía à noite, com material para as críticas semanais. Foi um defensor acérrimo do cinema de autor e do cinema português. E não admitia concessões.
Não ia ao cinema para se divertir, como muitas vezes escrevia nos seus textos. Ia para «divergir», para se confrontar com a linguagem do realizador, com a visão do outro, com uma cinematografia. Deixava contagiar pelos filmes, vivendo-os interiormente. Quando viu Salò ou os 120 Dias de Sodoma, de Pasolini, saiu do antigo cinema Condes, aos Restauradores, e começou a andar pela rua, tentando assimilar a obra. Só parou em Belém... Assim que acabou de assistir à primeira projecção de Francisca, para si a obra-prima absoluta de Manoel de Oliveira e do Cinema Português, comprou imediatamente o bilhete para a sessão da noite. Só nesse ano de 1981, viu-o seis vezes (14 no total). Era uma pessoa de impulsos. E de paixões.
A sua rede de afectos e amores era grande, e variada. Teve duas filhas, a Bárbara e a Francisca (devido ao filme de Manoel de Oliveira). Os seus amigos e familiares conheciam-no pelos seus telefonemas e postais. Ao pai, por exemplo, telefonava todos os dias. Uma chamada breve, para saber como estava o «Sr. Silva» e para dizer que ligava à noite. Outros telefonemas eram intermináveis conversas, que o Zé Manel gostava de prolongar, escondido atrás do computador, clandestinamente na redacção. Postais mandava-os de qualquer sítio, com qualquer feitio, em qualquer dia. Tornou-se a sua conta-corrente com os amigos, numa espécie de chat da internet ao ritmo dos tempos antigos.
Regia-se por hábitos que consolidou ao longo da vida. Cortava o cabelo duas vezes por ano, no mesmo barbeiro, ao Largo do Chiado. Religiosamente. Não precisava de marcação, nem de calendário para saber quando tinha de ir. «É quando o cabelo começa a bater nos ombros», explicava a brincar.
A sua doença chegou sem aviso. Não havia indícios, nem suspeitas. Apenas uma vida inteira a fumar. Houve épocas, como recordou entre sorrisos e olhares melancólicos já depois de ter deixado de fumar, em que era capaz de tomar banho sem apagar o cigarro. Um vício. Mas também uma companhia para a escrita. Soube que tinha um cancro pulmonar em Abril do ano passado. Revelou-o publicamente numa crónica, no JL n.º 981, de 7 de Maio. Escrevia então: «Até que um dia és tu que mingas, não apenas na coisa assim da alma, mas também no coiso já muito assado do corpo, que, com gozo e respectivo proveito, sempre deste ao manifesto. E és tu que mingas, porque há aquele nódulo que… Que a radiografia detectou, a TAC confirmou, a endoscopia revelou, a biopsia te coisou.» E acrescentava: «E tu sentes que o filho da puta do cancro te minga até a identidade. E que, por detrás do que passaste a ser, porque assim te passaram a chamar, ele te reduziu a um nódulo de ti mesmo. E só então – Sr. José, Sr. Silva – é que percebes que começaste a desnascer…»
Agarrou-se às esperanças que a Medicina lhe proporcionou, cumprindo as indicações dos médicos, sempre no Hospital de Santa Maria, onde veio a falecer, na madrugada de sábado, dia 10. Aguentou as filas, as limitações das camas, os incómodos das urgências, mas também se espantou com o profissionalismo dos enfermeiros e dos especialistas do serviço público.
Acima de tudo, não lamentou nada. Não se queixou da vida que teve, nem das imprudências que poderá ter cometido. No seu epitáfio bem podiam constar as palavras que enviou à redacção do JL, a anunciar a triste notícia da sua doença. «Não sou um arrependido, um convertido, ou um cristão-novo. Sou um cristão-velho, um escriba velho, um marxista velho e faço parte da esquerda velha. Por isso, sou pela missa em latim, rejeito o novo Acordo Ortográfico, creio na luta de classes e no punho erguido, estremeço quando vejo uma bandeira vermelha com a foice e o martelo, e hei-de ir para a cova com a cagança de jamais ter votado PS (não se esqueçam deste último pormenor, daqui a uns tempos, no meu elogio fúnebre).» Nós não o esquecemos. Nós nunca te esqueceremos.
Deixou cinco volumes de memórias, a que chamou Prova de Vida. Os três primeiros, com a chancela da Quimera, do seu amigo José Carlos Alfaro, tiveram, por decisão do autor, uma tiragem reduzidíssima, não ultrapassando os 20 exemplares, distribuídos exclusivamente entre os familiares e os amigos mais próximos. Os volumes quatro e cinco, este último inacabado, não foram (ainda) impressos, estando os originais guardados em dossiers amarelos. No total, são quase 300 textos, com fragmentos de uma vida recordada entre o passado e o presente. O mote é sempre uma fotografia, que dá início à viagem no tempo.
Entrevistas, reportagens e crónicas eram os seus géneros jornalísticos de eleição, embora soubesse que a notícia e a breve são a base de tudo, entregando-se a elas com igual apego. Tinha uma inclinação especial para o fait divers, para a pequena história que a imprensa dita de referência abandonou, deixando-a nas mãos de um jornalismo sensacionalista. Qualquer assunto dava um bom artigo, o segredo era saber fazê-lo. Ir ao local, ouvir os protagonistas, estabelecer as ligações, dar a ver o que realmente aconteceu. E não exigia muitas letras gordas, dizia, nem fotografias com choros, desgostos e outras desgraças alheias. Apenas um repórter da «pena» e outro da «foto», sempre atentos, com faro e respeito pelos factos e pelas pessoas. Nada disto, porém, fazia do Zé Manel um advogado da académica «objectividade» jornalística. Era um defensor da «subjectividade», do homem ou da mulher, do editor ou do estagiário que dava corpo à assinatura que validava o texto. Que lhe dava identidade. Era o jornalista do eu, nu e cru perante o leitor. Sem subterfúgios.
Militou nos jornais durante 40 anos, depois de ter regressado da Guerra Colonial e de ter sido expulso do ensino. Uma paixão antiga, alimentada pelos jornais que o seu pai levava para casa, sempre que as economias permitiam. Era o tempo – as décadas de 40 e 50 – dos vespertinos e dos matutinos, das duas edições diárias. Recordava com particular carinho a 2.ª edição do Diário de Lisboa que o pai comprava após os jogos do Belenenses, o seu clube de sempre, já com a crónica do encontro. Era o tempo do jornalismo do imediato, muito antes da hegemonia da Internet, que o Zé Manel exemplificava com o exemplar d’A Capital do dia 25 de Abril de 1974. No canto inferior direito, na última página, lá estava uma breve a anunciar o golpe militar em curso e a Revolução que se avizinhava. «Na altura, os jornais fechavam às quatro da manhã», ironizava. Os factos esmagavam as sinergias.
Não se via como um profeta do antigamente, antes pelo contrário. Tomava como suas todas as épocas. Mas em relação ao jornalismo peremptório. As cedências foram muitas, e a maximização dos recursos trouxe poucos benefícios. E não havia computadores, ficheiros electrónicos, mails ou redes informáticas que substituíssem a sensação, que tantas vezes descrevia, de ir à cave do ‘Popular’ sujar as mãos a compor um texto. «A sentir a prosa». Ou a ver o prédio a tremer assim que a rotativa começava a trabalhar. Uma nova edição estava a caminho.
Começou como estagiário no Diário Popular, a 30 de Julho de 1968. Nesse dia inaugural, a primeira notícia que escreveu foi logo cortada pela Censura. Não seria a última. Passado um mês, ganhou o concurso de admissão e foi contratado. Na mesma altura sindicalizou-se. Trabalhou naquele jornal durante 20 anos, coordenando a secção Trabalho e, mais tarde, a da Cultura e Espectáculos. Aí teve a sua escola de jornalismo.
Foi depois para o Diário de Lisboa, no outro lado da Rua Luz Soriano, entre 1988 e 1990, onde foi chefe de redacção adjunto e coordenador da secção Cultura e Espectáculos. Quando este vespertino fechou (um dos maiores desgostos da sua vida), ingressou n’O Jornal, até 1992, e finalmente aqui no Jornal de Letras, onde foi editor até a doença o atingir e se reformar, no passado dia 10 de Outubro. «Os jornais são seres vivos e as Redacções são como famílias», dizia.
Repórter atirador especial
José Manuel Amaral Rodrigues da Silva nasceu no dia 1 de Outubro de 1939 – o ano do fim da Guerra Civil Espanhola, como sempre lembrava –, em Lisboa. Era a cidade que amava, a par de Paris. Conhecia-lhe as histórias, os cantos e recantos e muitos encantos, os nomes das ruas, os novos e os velhos, e dos bairros, os populares e os modernos, que explorava como um antropólogo urbano. Via nos transportes públicos, principalmente no metro das sete da manhã, uma tese de doutoramento em potência. Um documentário que nenhum realizador ousou fazer.
Cresceu na freguesia dos Anjos, para onde os seus pais, nascidos na província – a mãe, no concelho de Mangualde, o pai, em Oliveira do Hospital –, foram morar depois de se casarem. Fez a escola primária no Colégio Egas Moniz. Era conhecido por Bacigalupo, em homenagem ao guarda-redes do Torino, que morreu, juntamente com o resto da equipa italiana, num desastre de avião, quando andava na 4.ª classe. Seguiu-se o Liceu Camões, até completar o antigo 2.º ciclo.
Quando teve de escolher, seguiu o ramo Histórico-Filosóficas, o que o levou ao Liceu D. João de Castro e a uma das maiores influências da sua vida: o professor de Filosofia Augusto Abelaira. «A luz na idade das trevas», escreveu numa crónica publicada no JL após a morte do autor d’A Cidade das Flores. «As aulas eram de Filosofia e ele dava a matéria com exemplar rigor, mas o milagre era como, entre a Psicologia e a Lógica, a Teoria do Conhecimento e a Teodiceia, o Abelaira, em dois anos, conseguia falar de tudo o mais… e o tudo o mais é que era importante». Foi a descoberta da música, da poesia, da pintura, da literatura, do existencialismo, do realismo russo, das cidades de Itália. «O melhor professor que tive em toda a minha vida de estudante foi ele. Sobretudo porque, para além de tudo o resto, o que afinal me deu de maior foi ensinar-me a pensar e a pensar-me.»
O seu destino definiu-se nesses anos. Normalmente, os filhos da classe média, como era a sua – o pai trabalhava nas oficinas da Guarda Nacional Republicana, a mãe era doméstica –, seguiam um curso profissional. Mas os pais sempre apostaram na sua formação, ainda que o futuro não apresentasse garantias. O Zé Manel foi ultrapassando etapa a etapa, surpreendendo familiares e vizinhos. Ingressou na Faculdade de Letras (FL), para o curso de História, com a maioridade recém atingida. Foram anos intensos, feitos de tertúlias nos cafés, manifestações contra o regime, movimentos estudantis, muito cinema e alguns exames.
Participou activamente na crise académica de 1962, ao lado de José Medeiros Ferreira, Teresa Amado, Maria Benedita, Maria Antónia Fiadeiro, Ramos Lopes e Fernando Correia, todos do seu ano escolar. Fortaleceram as trincheiras alguns caloiros e outros estudantes, como Eduardo Prado Coelho, Maria Emília Brederode, Ana Maria Alves, Mário Sottomayor Cardia, Gastão Cruz, Fiama Hasse de Pais Brandão, Fernando J. B. Martinho, Vasco Pulido Valente ou Ruy Belo. No ano seguinte, era eleito vice-presidente da Comissão Pró-Associação de Estudantes da FL, presidida por Alberto Teixeira Ribeiro e, depois, por Teresa Amado.
Na verdade, o Zé Manel recusou ser presidente, atitude que o acompanhou ao longo de toda a vida. A liderança não o seduzia. Preferia os bastidores, e só aceitou chefiar uma secção, nos jornais por onde passou, por razões muito claras: «Porque sempre temi que um incompetente qualquer, quiçá arrogante (um defeito por norma atrai o outro) exercesse poder sobre mim. E, mais ainda do que sobre mim, sobre o que eu escrevia».
Esta recusa das altas patentes consolidou-se na tropa. Em Janeiro de 1964, iniciou o curso de Oficiais Milicianos, na Escola Prática de Infantaria, em Mafra (foi-lhe atribuída a especialidade de atirador, mesmo sendo míope…). A Guerra Colonial, ainda estar no início, era uma ameaça para qualquer jovem. A guia de marcha chegou a 21 de Maio de 1965: Moçambique, no navio Niassa. Ficou colocado na Companhia de Caçadores de Mocímboa da Praia, permanecendo no «mato», na frente de batalha, até Junho de 1966. Depois ficou um ano em Lourenço Marques, regressando a Lisboa, em 1967, já com a Ponte sobre o Tejo inaugurada, uma nova ligação para a Costa da Caparica, onde passou as férias na infância.
O que mais o impressionou em África foi a injustiça. Uma guerra sem sentido, por um ideal que não era o seu. Injustiça também no seio dos militares, na abissal diferença entre quem arrasta bandeiras num mapa, assim decidindo um ataque, e quem os sofre na pele e no terreno. «Tornei-me racista na guerra? Tornei, só que o meu ‘racismo’ não tem nada a ver com raças ou cores de pele, mas, isso sim, com o desprezo que passei a sentir por todos aqueles que são incapazes de fazer aquilo que ordenam que os outros façam, sobretudo quando isso implica risco», escreveu no seu livro de memórias. «Daí que hoje (de há muito), o jornalista que sou olhe de cima aquele que tem ideias e as não leva a prática, escrevendo. Daí que o jornalista que sou se considere, no fundo, cá bem no fundo, o alferes miliciano da infantaria do jornalismo, com a especialidade de repórter atirador especial.»
De volta à vida civil, gastou as suas últimas balas na docência. Foi professor de História no D. João de Castro. Uma experiência que acabou abruptamente. As suas liberdades pedagógicas – e opções políticas – não passaram desapercebidas à PIDE, que o proibiu de ensinar (Muito mais tarde, após o 25 de Abril, seria professor, mas de jornalismo, durante 12 anos, na Escola Secundária D. Pedro V). Chegava ao fim um ciclo da sua vida. Abria-se a porta dos jornais.
Sem arrependimentos
Se o jornalismo foi a sua casa, a Cultura foi o seu quarto. A sua grande paixão. Tudo convergia para aí. É verdade que se preocupava com a política – militou na UDP nas lutas contra o fascismo, embora tenha abandonado o partido depois do 25 de Abril, e teve uma participação activa no sindicato dos jornalistas. Por outro lado, olhava o mundo e Portugal pelo filtro da História. O século XIX, tema da sua tese de licenciatura, afigurava-se a sua bitola para analisar o presente.
Contudo, a sua vocação era a literatura, o cinema, a música e o teatro, desde os tempos dos cineclubes, dos livros emprestados entre amigos, das aulas do Secundário e da Faculdade. Tinha a casa – um autêntico museu, forrado de memórias e vivências – cheia de livros. Em lugar de destaque, junto à secretária, três obras: a Fotobiografia de Manoel de Oliveira, O Livro da Agustina e a edição comemorativa dos 25 anos da Cornucópia. E seria possível fazer um ciclo de cinema só a partir dos cartazes que tinha na parede. Era capaz de receber um livro de manhã e lê-lo de enfiada, ao correr das horas, independentemente do sítio em que se encontrasse. Eça, Camilo, Pessoa (antes do aparato dos estudos pessoanos e das descobertas da arca sem fundo, como brincava), Irene Lisboa, José Saramago, Herberto Helder, Lobo Antunes, em que viu, logo na obra de estreia, um grande escritor, pedindo-lhe a primeira entrevista, publicada em duas edições do Diário Popular; Sartre e Simone de Beauvoir, em particular a correspondência entre ambos, Marguerite Yourcenar, Tolstoi, de quem acabara de ler recentemente Guerra e Paz, pela quarta vez… Não esquecendo os policiais de Georges Simenon, Donna Leon, Henning Mankell e Aleksandra Marínina. A lista dos seus autores é infindável, e não tinha limitações. A curiosidade permanecia em aberto. Da História à Filosofia – foi o primeiro a chamar a atenção para o livro de José Gil, Portugal, Hoje, O Medo de Existir –, passando pela Sociologia, sobretudo os títulos de José Machado Pais, com quem partilhava o olhar sobre a sociedade contemporânea e as suas solidões.
Com o cinema tinha uma relação idiossincrática. Desde criança que se habituou a apontar todos os filmes que viu – quase cinco mil – na sua velha máquina de escrever, um hábito que nunca abandonou, nem quando recebeu um computador de presente. Houve uma altura, ainda no Diário Popular, em que os compromissos eram muitos durante a semana. Para remediar o problema, ao sábado entrava à tarde no Quarteto, o primeiro multiplex português, que tinha um pão-de-ló (do sr. Juvenal) que adorava. Só saía à noite, com material para as críticas semanais. Foi um defensor acérrimo do cinema de autor e do cinema português. E não admitia concessões.
Não ia ao cinema para se divertir, como muitas vezes escrevia nos seus textos. Ia para «divergir», para se confrontar com a linguagem do realizador, com a visão do outro, com uma cinematografia. Deixava contagiar pelos filmes, vivendo-os interiormente. Quando viu Salò ou os 120 Dias de Sodoma, de Pasolini, saiu do antigo cinema Condes, aos Restauradores, e começou a andar pela rua, tentando assimilar a obra. Só parou em Belém... Assim que acabou de assistir à primeira projecção de Francisca, para si a obra-prima absoluta de Manoel de Oliveira e do Cinema Português, comprou imediatamente o bilhete para a sessão da noite. Só nesse ano de 1981, viu-o seis vezes (14 no total). Era uma pessoa de impulsos. E de paixões.
A sua rede de afectos e amores era grande, e variada. Teve duas filhas, a Bárbara e a Francisca (devido ao filme de Manoel de Oliveira). Os seus amigos e familiares conheciam-no pelos seus telefonemas e postais. Ao pai, por exemplo, telefonava todos os dias. Uma chamada breve, para saber como estava o «Sr. Silva» e para dizer que ligava à noite. Outros telefonemas eram intermináveis conversas, que o Zé Manel gostava de prolongar, escondido atrás do computador, clandestinamente na redacção. Postais mandava-os de qualquer sítio, com qualquer feitio, em qualquer dia. Tornou-se a sua conta-corrente com os amigos, numa espécie de chat da internet ao ritmo dos tempos antigos.
Regia-se por hábitos que consolidou ao longo da vida. Cortava o cabelo duas vezes por ano, no mesmo barbeiro, ao Largo do Chiado. Religiosamente. Não precisava de marcação, nem de calendário para saber quando tinha de ir. «É quando o cabelo começa a bater nos ombros», explicava a brincar.
A sua doença chegou sem aviso. Não havia indícios, nem suspeitas. Apenas uma vida inteira a fumar. Houve épocas, como recordou entre sorrisos e olhares melancólicos já depois de ter deixado de fumar, em que era capaz de tomar banho sem apagar o cigarro. Um vício. Mas também uma companhia para a escrita. Soube que tinha um cancro pulmonar em Abril do ano passado. Revelou-o publicamente numa crónica, no JL n.º 981, de 7 de Maio. Escrevia então: «Até que um dia és tu que mingas, não apenas na coisa assim da alma, mas também no coiso já muito assado do corpo, que, com gozo e respectivo proveito, sempre deste ao manifesto. E és tu que mingas, porque há aquele nódulo que… Que a radiografia detectou, a TAC confirmou, a endoscopia revelou, a biopsia te coisou.» E acrescentava: «E tu sentes que o filho da puta do cancro te minga até a identidade. E que, por detrás do que passaste a ser, porque assim te passaram a chamar, ele te reduziu a um nódulo de ti mesmo. E só então – Sr. José, Sr. Silva – é que percebes que começaste a desnascer…»
Agarrou-se às esperanças que a Medicina lhe proporcionou, cumprindo as indicações dos médicos, sempre no Hospital de Santa Maria, onde veio a falecer, na madrugada de sábado, dia 10. Aguentou as filas, as limitações das camas, os incómodos das urgências, mas também se espantou com o profissionalismo dos enfermeiros e dos especialistas do serviço público.
Acima de tudo, não lamentou nada. Não se queixou da vida que teve, nem das imprudências que poderá ter cometido. No seu epitáfio bem podiam constar as palavras que enviou à redacção do JL, a anunciar a triste notícia da sua doença. «Não sou um arrependido, um convertido, ou um cristão-novo. Sou um cristão-velho, um escriba velho, um marxista velho e faço parte da esquerda velha. Por isso, sou pela missa em latim, rejeito o novo Acordo Ortográfico, creio na luta de classes e no punho erguido, estremeço quando vejo uma bandeira vermelha com a foice e o martelo, e hei-de ir para a cova com a cagança de jamais ter votado PS (não se esqueçam deste último pormenor, daqui a uns tempos, no meu elogio fúnebre).» Nós não o esquecemos. Nós nunca te esqueceremos.
[Versão integral do texto que será publicado na edição de amanhã do JL, n.º 999]





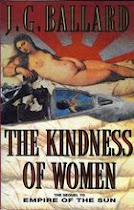























4 comentários:
Parabéns pela homenagem, lindíssima. Não conheci o Homem a quem dedicam este vosso imenso adeus, mas as palavras emocionaram-me pela força e autenticidade da vida que relatam.
Que pena é que alguns dos Bons passem por nós sem que nos apercebamos dos seus passos. Sou disso exemplo; lamento-o hoje.
Lamento...
Tenho as cartas e os postais dele guardados - desarrumados - numa caixa verde, sei que ele tinha as minhas numa gaveta, bem ordenadas e que há uns bons anos me disse que, quando morresse, havia já um destino traçado para essa nossa correspondência. Não lhe perguntei qual era - que interessava isso?
Lembro que o encontei no dia em que nasceu a Francisca, por acaso - ou não, entre nós nunca houve propriamente coincidências - e que para ela tricotei um conjunto complicado, deslumbrando-me depois por vê-lo tão apaixonado e rendido a esta filha tardia.
Nos últimos tempos, os contactos foram esparsos mas fomos sabendo um do outro, um telefonema aqui ou acolá.
Até que eu soube desta doença malvada e lhe liguei recentemente, para casa. Despediu-se de mim. Desejou-me sorte. Fiquei a ouvir Messiaen o resto da tarde.
Não fui ao funeral. Mas sonhei com ele nessa noite, e conversámos. Entre nós nunca houve coincidências...
Clara Botelho
Conheci-o há mais de 20 anos, ainda era adolescente por intermédio do seu pai na Rua Dona Estefânia em Lisboa, o qual era cliente de uma mercearia explorada pelos meus pais (memórias boas...) e lembro-me de lhe ter feito uma entrevista para entregar na Escola para a disciplina de Jornalismo. Apenas não me lembro em que Jornal ele trabalhava...
Que descanse em paz e envio daqui também os meus parabéns por esta homenagem singela, belíssima!
Até sempre!
Enviar um comentário