Uns sapatos meio cambados, biqueira larga, talvez um 42 ou mais, estavam atirados para o meio de um armário cinzento entre livros e papéis. Não seriam sapatos de defunto, mas ninguém sabia a quem pertenciam e nunca ninguém os reclamou. Nesse tempo, os sapatos ainda não tinham ganho o estatuto de digno petardo de que hoje gozam legitimamente, mas não deixavam esses, esquecidos entre letras, de constituir um dos insólitos mistérios do JL, quando cheguei a esta redacção. Havia quem suspeitasse que eram de Carlos Vaz Marques que tinha saído há pouco do jornal para, como se diz, seguir outros passos na TSF. Nunca se tirou isso a limpo e não valia a pena tentar a prova de Cinderelo. Porque a história não se repete, nem os abandonados sapatinhos valiam meias solas. Descobri, aliás, rapidamente, que o JL é um poço sem fundo, onde se pode perder tudo. Às vezes a cabeça e as estribeiras. Nunca o amor à camisola.
«Há coisas que só neste jornal», queixa-se muitas vezes o Zé Carlos, nosso director. Assiste-lhe a razão. «É o último jornal do século XIX», costumava dizer o Rodrigues da Silva, que foi nosso editor durante 15 anos. Era uma espécie de cartão de visita na recepção aos estagiários que por cá foram passando, uns 40 em números redondos e o Zé Manel tinha-os contados, E não se ficava por aí, atirava logo, a lucidez contra as ilusões, com os ossos do ofício: «Quando deixamos de escrever nos jornais, ninguém nos conhece, acabam-se os convites, as dedicatórias». Também dizia ele muitas vezes que estava feita a história da imprensa, mas faltava fazer a dos jornalistas: Conhecíamos nós, tal e tal nome que tinha sido um grande repórter? Não, não sabíamos, acabávamos por reconhecer com uma ponta de vergonha como quem é apanhado em falso. Numa tal história que se fizesse, o Zé Manel teria o seu justo lugar, entre o amor da escrita e a observação crítica e amável do mundo, subjectiva, sempre como era sua bandeira, que sabia que a objectividade em jornalismo não existe. Foi uma das coisas essenciais que aprendi com ele.
Estou certa que tudo isso ficará para a história dos jornalistas do JL. Tal como o dia em que a Francisca chorou, quando ligou pela primeira vez a um escritor de que gostava muito; as agendas cheias de ideias e de tentativas de organização, aplicadas ‘pautas’ do Ricardo, as notas pop muito soltas e a desarrumação orquestrada do Manel, as apostas entre ambos e mais recentemente os matrecos; as falas de cor do Casablanca ou do Almodóvar, da Maria João, o «brilhozinho nos olhos» das fotos do João, as directas da Rita, o sossego da Marta, os gatos das redondezas que a Otília sustenta, os poemas e cantorias do Miguel Eduardo que come insaciavelmente papel e rói os lápis até ao carvão. Ou a vez em que, ainda na Avenida da Liberdade, o nosso gráfico-cantor subiu a um estirador, com o Luís Almeida Martins, e começaram a gritar à janela, alto e bom som, o nome de um certo escritor lusófono, como num grito de guerra. Ou ainda, toda a espécie de palavrões e vernáculos mimos que são o pão nosso de cada dia destas santas bocas da cultura, os recortes e montagens fotográficas nas paredes, a célebre legenda Bela, a mulher de Bartók, aquele livro da vida As Memórias de um Açoreano, o mítico tema dos poetas bissextos, o quid juris das reuniões ou o estranho caso das emendas que o Zé Carlos perde invariavelmente nos textos em computador. Outro mistério que nem a melhor informática pode deslindar.
Os sapatos, esses talvez fossem apenas feitos para andar. Que a este jornal, ninguém apanha descalço. «Uma instalação», como insinuaria provocatoriamente o R. da S. E havia de dizer: «Que mil JL floresçam».





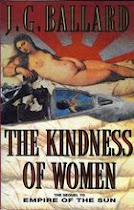























0 comentários:
Enviar um comentário