«Assina sempre os teus textos. O nome é a única coisa que temos certa nos jornais». «Balda-te à reunião e vai antes ao cinema. Aprendes muito mais com o filme». «Vai para a rua – pé ligeiro – falar com as pessoas. Ao telefone não se conhece ninguém. E não uses muito o gravador. Obriga-te a decorares o essencial». Estes, como tantos outros, conselhos que lhe ouvi mil vezes da boca, sempre ditos com um sorriso cúmplice. Histórias e mais histórias, historinhas, que de todas era feito o Zé Manel.
«Trata-me por tu, pá» atirou-me à primeira, no dia em que cheguei para estagiar no JL. Foi logo ali, quando lhe disse que me chamava Francisca (como a sua filha mais nova, como o filme do Oliveira,) que senti que tinha ganho um amigo. E foi exactamente isso que ele foi. Um amigo querido, companheiro e camarada – mesmo quando se baldava com um «até amanhã», dito muito baixinho, para que ninguém notasse a sua saída da redacção – um cúmplice de muitas paredes, de desenhos e de palavras. De correcções de textos, feitas noutra sala, discretamente, para que ninguém soubesse que me tinha encontrado falhas. O Zé Manel era assim, cuidadoso.
Lembro a letra deitada com que nos via os textos, quase sempre, a vermelho. E a forma estática com que ficava ao nosso lado, quando nos pedia para lermos os dele. Minucioso à vírgula, revisor até à quinta casa.
O cachimbo era uma imagem de marca, como as t-shirts do Miró, mais as do Festival Sete Sóis e ainda a do Oliveira, os sapatos enormes – «Sempre tive os pés grandes» –, as mãos compridas e o anel prateado no dedo mindinho.
Zé Manel, companheiro de tantos filmes, sempre vistos da primeira fila da sala de cinema, mesmo que ao visionamento só tivessem ido três jornalistas… Zé Manel, da casa em Campo de Ourique, cheia de memórias espalhadas pelas paredes, pelas ombreiras das portas, casa rodeada de livros por todos os lados e nenhuma televisão. O banco de jardim como sofá, onde me deu o presente de casamento mais surpreendente, as fotografias, os jornais, os postais.
Tantas objectos, tantas frases, tantas histórias e recordações que não cabem num só texto, para o tanto de Zé Manel que permanece. «Foi optíssimo. Gostei enorme».
«Trata-me por tu, pá» atirou-me à primeira, no dia em que cheguei para estagiar no JL. Foi logo ali, quando lhe disse que me chamava Francisca (como a sua filha mais nova, como o filme do Oliveira,) que senti que tinha ganho um amigo. E foi exactamente isso que ele foi. Um amigo querido, companheiro e camarada – mesmo quando se baldava com um «até amanhã», dito muito baixinho, para que ninguém notasse a sua saída da redacção – um cúmplice de muitas paredes, de desenhos e de palavras. De correcções de textos, feitas noutra sala, discretamente, para que ninguém soubesse que me tinha encontrado falhas. O Zé Manel era assim, cuidadoso.
Lembro a letra deitada com que nos via os textos, quase sempre, a vermelho. E a forma estática com que ficava ao nosso lado, quando nos pedia para lermos os dele. Minucioso à vírgula, revisor até à quinta casa.
O cachimbo era uma imagem de marca, como as t-shirts do Miró, mais as do Festival Sete Sóis e ainda a do Oliveira, os sapatos enormes – «Sempre tive os pés grandes» –, as mãos compridas e o anel prateado no dedo mindinho.
Zé Manel, companheiro de tantos filmes, sempre vistos da primeira fila da sala de cinema, mesmo que ao visionamento só tivessem ido três jornalistas… Zé Manel, da casa em Campo de Ourique, cheia de memórias espalhadas pelas paredes, pelas ombreiras das portas, casa rodeada de livros por todos os lados e nenhuma televisão. O banco de jardim como sofá, onde me deu o presente de casamento mais surpreendente, as fotografias, os jornais, os postais.
Tantas objectos, tantas frases, tantas histórias e recordações que não cabem num só texto, para o tanto de Zé Manel que permanece. «Foi optíssimo. Gostei enorme».





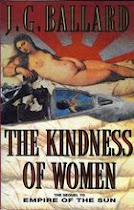























1 comentários:
Um agraço daqui para a grande Francisca-grande.
Enviar um comentário