Entrevista a Mario Camus
Figura emblemática do Nuevo Cine Español, Mario Camus destaca-se pela adaptação de romances de Garcia Lorca, Calderón de la Barca, Peréz Galdós, Camilo José Cela, Miguel Delibes, entre outros. Com mais de 40 anos de carreira, ficou conhecido pelos filmes revisionistas realizados após a morte de Franco. Dois deles, A Colmeia e Os Santos Inocentes, pasam no Ciclo de Cinema Espanhol que se inicia hoje
Fala do seu cinema com a sobriedade de um veterano; «Às vezes acerto, outras vezes falho». E também é dos erros que se constrói o nome. E o de Mário Camus é bem conhecido em Espanha. Por cá, poucos terão ouvido falar dele. Mesmo quando um dos seus filmes A Cidade dos Prodígios (falhado segundo o próprio), teve um subsídio de Portugal e a interpretação de Diogo Dória.
Nascido em Santander, em 1935, Camus já realizou mais de 30 obras, entre cinema e televisão. A Colmeia (1982), a partir de Camilo José Cela, que retrata o ambiente de um grupo literário na Espanha franquista, é a sua obra mais conhecida. Hoje, recolhido numa aldeia da Cantábria, vai escrevendo as suas próprias histórias. E fala do tempo, que não volta para trás.
Jornal de Letras: O seu trabalho é muito pouco conhecido em Portugal. Como é que isso se explica?
Mario Camus: Esse não é um problema nosso, mas da distribuição. Depois de um filme terminado, é insondável o seu caminho. Eu já nem tento compreendê-lo. Por exemplo, agora saíram dois filmes meus dos anos 70, em DVD, numa promoção da Fnac.
A verdade é que mesmo neste Ciclo de Cinema Espanhol passam dois filmes seus dos anos 80, e não as últimas obras. Porquê?
Se o destino dos filmes é complicado, a atitude dos ministérios e das direcções-gerais é esquizofrénica. Não consigo entender. A Colmeia é de 1982. É um bom filme, mas entretanto já fiz outros 20…
Muitos dos seus filmes são adaptações de livros. Torna-se mais fácil?
A literatura é um atalho estupendo. Quando o realizador é guionista, o processo habitual é depois de terminar um filme começar a escrever outro. O que é muito difícil. Às vezes sai outras não. Mas estes atalhos abrem sempre possibilidades: um livro de que tenha gostado ou que tenha lido na infância. Compram-se os direitos e pronto. A literatura é um sistema narrativo diferente do nosso. Transformamo-la e fazemos filmes. Mas tal não faz com que o filme esteja subordinado à literatura. Torna tudo mais rápido. Se não me baseasse tantas vezes em romances, teria feito muito menos filmes.
Contudo, há sempre a tendência para comparar os livros com os filmes…
Tive a sorte de me encontrar sempre com escritores que o entendiam muito bem. São duas narrativas diferentes. Às vezes, a melhor maneira de ser fiel à obra é atraiçoando-a ligeiramente. Por paradoxal que possa parecer. A melhor forma é transportar o espírito, mas não tanto os factos. Há muitas maneiras de adaptar. Havia um realizador que dizia: «Se quiseres uma flor não tens que plantar outra flor. Tens de semear a semente da primeira».
E, por vezes, os filmes são melhores do que os livros. Hitchcock partiu de alguns romances menores para fazer películas maiores…
Claro, porque são distintos. Não se deve exagerar e pensar que há uma dívida do cinema à literatura. Na verdade, hoje já muitos escritores trabalham a pensar na adaptação ao cinema, porque recebem muito dinheiro com isso. Mas no fundo todos nos baseamos na vida. Como dizia Sabatini: «Tudo o que temos de fazer é criar histórias credíveis com personagens credíveis da maneira mais emocionante possível».
Os dois filmes exibidos no ciclo, assim como Os Dias do Passado, têm referências concretas ao franquismo.
Os Dias do Passado é um filme revisionista feito justamente na altura em que o ditador desapareceu. Nessa altura, alguns cineastas ficaram com essa obsessão de contar de uma outra maneira o que se tinha passado durante o regime. Há imensos filmes espanhóis dessa altura que procuraram fazer uma revisão da História.
O mesmo acontece com Os Santos Inocentes…
Sim, é abordar uma parte da história que estava mal contada. Falar do que nunca se tinha falado. Havia problemas de censura e depois tudo passou.
A Colmeia tem um ambiente literário de café fantástico…
Foi um romance escrito por Camilo José Cela, nos anos 50. Publicou-o em Buenos Aires, porque era impossível fazê-lo em Espanha. Fala de um círculo da vida de Madrid em 1942. Essa vida estava dominada pelo clima de pós-Guerra. Clima este que eu conheci quando era criança. Lembro-me da escassez de alimentos, do frio e do medo. E são esses os três elementos chaves do romance. Sobretudo em Madrid, havia fome, fazia muito frio e um imenso medo. Isso persiste na vida de um grupo de escritores que, apesar de tudo, quer continuar a viver. E para tal inventam qualquer tipo de subterfúgio. Gostei muito de adaptar esse livro.
Também fez um filme com apoio português e a participação de Diogo Dória, A Cidade dos Prodígios. Como aconteceu?
O Diogo Dória é fantástico. Mas o filme é frouxo, saiu-me muito mal. É inútil tentar defendê-lo, porque tenho de trabalhar com sinceridade. Foi um equívoco, saiu desproporcionado, não sabia muito bem que parte do romance devia contar. Dei-me conta mais tarde e pensei que havia hipótese de salvá-lo, mas não resultou. Não fiz um bom trabalho.
E na mais recente, El Prado de las Estrellas?
Aí sim. Corresponde a outra fase. Com mais de 70 anos, vivo recolhido numa aldeia na Cantábria. Por instinto vou escrevendo histórias. Penso que esta é muito interessante. Saiu bem. Contudo, julgo que nós, os velhos, fazemos filmes que já não chegam a um grande público. Um realizador de 20 anos tem uma equipa e um público de 20 anos. E vão todos juntos. Assim aconteceu comigo. O meu público, que tem a minha idade, não sai de casa, já não lhe apetece ir ao cinema. Compraram um home cinema e vêem clássicos. Em Espanha, 87 por cento dos espectadores de cinema tem menos de 30 anos. Os gostos mudaram. A minha história é de velhos. Quando sair em DVD, talvez as pessoas da minha idade vejam e gostem.
quinta-feira, 10 de julho de 2008
A literatura como atalho
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)





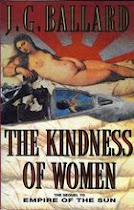























0 comentários:
Enviar um comentário