A propósito da edição em DVD de Onde Jaz o teu Sorriso, de Pedro Costa, republicamos um texto de Rodrigues da Silva
Permitam-me a ênfase. E a sinceridade. Este é um dos mais inteligentes e também dos mais belos filmes que já vi. Este filme chama-se Onde Jaz O Teu Sorriso?, realizou-o o português Pedro Costa, e se não dispenso o «português» é porque é um orgulho saber nosso aquele que é hoje (e não só por este filme, mas por toda a sua obra anterior) um dos mais importantes cineastas vivos. Em todo o Mundo.
E vamos ao filme. Ou ao que é. Ou, para já, ao que lhe esteve na origem.
Na origem esteve um convite feito a Pedro Costa: fazer para o canal televisivo ARTE um filme a inserir na série Cineastas do Nosso Tempo. Os cineastas foram Jean-Marie Straub/Danièlle Huillet, que, desconhecendo a filmografia de Costa, só aceitaram depois de Jacques Rivette, que admiram, se confessar grande entusiasta dela.
A partir daqui foi o trapézio sem rede, já que, para fazer um filme sobre cineastas, há (ou haveria) um número ilimitado de modus faciendi. Atrevo-me a dizer que Pedro Costa escolheu não o melhor, mas aquele que para mim é, a partir de agora, o único. O único possível.
O único justo. Qual? Este que vos revelo.
Sabendo que o casal Straub/Huillet estava a fazer uma terceira montagem do seu filme Sicília! para um auditório de alunos do Studio National des Arts Contemporains de Fresnoy (Lille/França), Costa foi para lá que se dirigiu e foi lá que filmou. Praticamente tudo o que se vê passa-se, assim, na sala de montagem. Com três intérpretes: os dois cineastas e o seu filme. Melhor dizendo: os fotogramas do seu filme que Huillet, na mesa de montagem, vai deixando correr de frente para trás e de trás para a frente em busca do ponto exacto do corte. Isto enquanto Straub, na sombra, discute com a mulher a opção, deambula e fala de cinema.
Deveria haver um quarto personagem se Onde Jaz O Teu Sorriso? fosse um documentário, no sentido clássico do termo. Esse quarto personagem seria o auditório, isto é, os alunos que ocupam o espaço atrás da mesa de montagem. Pois, mas Costa eliminou esses alunos, esse auditório, esse espaço. Não documentou, ficcionou (todo o documentário ficciona, toda a ficção documenta), para se concentrar (e nos concentrar) apenas no trabalho dos cineastas.
Não só por saber (como alguém já referiu) que os filmes de Straub/Huillet são «feitos à mão».
Também na certeza de que para eles «aquilo que se filma é mais forte que o cinema».
Trabalho, sem dúvida, portanto. Logo, também paixão. Ou essa simbiose magnífica entre as duas entidades que acontece (quando acontece...) se os caminhos da Paixão são os caminhos do Calvário e vice-versa. Após o que há a Ressurreição. Pela obra feita. Perfeita. A obra acabada. E assim, porque o trabalho (dirá Straub durante o filme) só para uma ínfima parte da Humanidade é aquilo que as pessoas gostam de fazer. Straub/Huillet fazem parte dessa pequeníssima percentagem de humanos que fazem o que querem. Como querem. «Mas isto paga-se», dirá Straub. Paga-se com a natureza inerente à criação, mas paga-se também com a circunstância da incompreensão da sociedade do consumo de imagens pelo trabalho/paixão, no caso em apreço por aquilo que Bresson chamava «cinematógrafo», opondo o termo a «cinema».
O que vemos, com Huillet a trabalhar os fotogramas e Straub por detrás em solilóquio por vezes rabuja, é algo como um fazer amor. Amor com os fotogramas, na ânsia do melhor, do absoluto. Os fotogramas são a Matéria. Antes dela, dirá Straub, há a Ideia. E no final a Forma.
«Como uma escultura», conclui, e está tudo dito, nem é preciso dizer mais nada sobre o percurso de uma criação. Mas voltemos a Pedro Costa.
Já percebemos que, inteligentemente, ele dispensou o auditório, renegando a forma clássica do documentário, para se concentrar nos dois cineastas e na sua obra em mãos. Porquê? Por uma razão simples. Para que nós (espectadores), através dele e da sua câmara, nos concentrássemos no processo criativo. E aqui somos reconduzidos ao seu filme anterior, No Quarto da Vanda, onde nos obriga a confrontar com o essencial de um outro processo, uma outra realidade.
Mas Pedro Costa dispensa mais. Dispensa o cliché habitual de um filme sobre dois cineastas: a biografia.
Que se imagina intercalada com bocados de filmes + entrevistas. E fá-lo, convicto, decerto, que aquilo que verdadeiramente dá a ver um criador é a sua criação. Ou o labor que a ela conduz.
E sobre este labor, sim, Costa é exaustivo. Porque ele sabe que a obra acabada é precedida de um labor/dor que o público obviamente ignora. A pedra contém já em si a estátua, mas é o escultor que dela a fará brotar. Assim, Pedro Costa revela. Qual parteiro que nos expusesse o trabalho de um parto. Difícil, moroso, mas apaixonado e imensamente feliz.
Poderia eu ainda dizer (e digo) que Straub, nos seus peripatéticos passos em volta da mesa de montagem, alude a Pavese, a Brecht e a Vittorini, bem como a um sem número de cineastas tutelares, de Chaplin a Hitchcock, de Bresson a Dreyer, de Buñuel a Mizogouchi. Pelo meio, ficamos a saber também que o casal se conheceu em 1954, e da sua vida praticamente mais nada. Excepto o resto, que é a teoria que, a partir de uma prática longa de mais de 40 anos, foram, a dois, elaborando. Estética e ética em harmonia. Sobre a margem de liberdade que deve ser dada aos actores. Sobre essa outra margem de liberdade que deve sobrar ao espectador para que seja ele próprio, pela imaginação, a completar a obra, razão pela qual cada fotograma não deve jamais bloqueá-lo, mas libertá-lo. Sobre o tempo, a durée, esse tempo que não é dinheiro, ou por ele não deve ser medido. Sobre a montagem, também, que, tal como a arte toda ela, não é a vida, embora dela parta, e Straub explica-o de uma maneira lapidar: «Na vida não andamos a fazer planos».
Sabemos isto e como o sabemos? Sabemo-lo, via Pedro Costa, que (com duas câmaras, uma pequena Panasonic e uma digital, mais um técnico de som) tudo captou. Como? Dando-nos a ver os dois cineastas, criadores, sempre na penumbra e nunca em primeiro plano, porque o primeiro plano e a luz o destinou ele à obra que vai sendo criada, a partir da montagem.
Ideia-Matéria-Forma. Um filme assim, como Onde Jaz o Teu Sorriso? vai muito além do seu ponto de partida.
Na verdade, filmando Jean-Marie Straub/Da- nièlle Huillet, o que Pedro Costa filmou e nos oferece é uma autêntica ontologia da criação.
Graças a um acto de amor e conhecimento.
Absolutamente sublime!
JL 843, de 22 de Janeiro de 2003





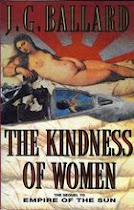























2 comentários:
Que bom (re)lembrarem aqui o nosso Zé Manel!...
Ando há meses para escrever isto. Desde a morte do meu mui querido amigo. Uma morte que, tal como a Lobo Antunes, me deixou zangada com Deus.
Hoje, dia 1 de Outubro, dia do seu aniversário, sinto que não posso deixar passar o dia “em branco”.
O Zé Manel é o tipo de pessoa que nunca se poderá repetir. Nem alguém, em qualquer tempo, se lhe poderá comparar.
É ele o “mais grande” que conheci. Mais peculiar e particular. Mais livre e, simultaneamente, mais dado aos outros.
Com a sua morte, todos nós – todos – ficámos a perder.
Perderam os que não o chegaram a conhecer, por isso mesmo: porque não o chegaram a conhecer. Perderam os que o conheceram, por tudo o que deixaram, para sempre, de ter: o seu sorriso rasgado, a cada frase provocadora; o seu longo dedilhar, na preparação do maldito cachimbo; os seus impagáveis postais, sempre escritos a roxo; os seus reparos certeiros ou rasgados elogios, na hora em que eram mais precisos.
A sua inteligência rebelde iluminava-nos. O seu afecto e generosidade fazia-nos a todos especiais.
Porque o Zé era mesmo assim. Dava-se todo a toda a gente. E só assim sabia viver. Sem meias palavras.
Tudo o que Zé era nos faz falta. Todas as salas que habitou choram a ausência do corpo que, só por si, as enchia.
Resta-nos apenas um consolo: O “nosso” Zé Manel - o “vosso” Rodrigues da Silva - jamais será esquecido.
Com os melhores cumprimentos.
Da cunhada e amiga, com uma imensa saudade (e desculpa lá a pieguice Zé, mas é o costume!...).
Ruth da Gama
É um belo filme sobre a bela arte do cinema.
Enviar um comentário