Estreia amanhã
 Em muitos países do Médio Oriente, a religião confunde-se com o Estado e há uma opressão sobre as mulheres, que se reflecte muitas vezes em trajes obrigatórios. Mesmo em regimes um pouco mais tolerantes, como a Síria ou a Jordânia, existe um forte conservadorismo moralista, impregnado na própria sociedade. Muitos desses países estão constantemente à beira de conflitos e são procurados por jornalistas e fotojornalistas na tentativa de denunciar realidades obscuras, como violações dos direitos humanos. São missões por vezes arriscadas, por se cruzarem com grupos fundamentalistas e leis de Estado implacáveis. Ironicamente, o fotógrafo Antoine d’Agata percorreu essas latitudes com um propósito realmente insólito. Sem fome de denúncia ou reportagem, sem sequer buscar exotismos, limitou-se a fazer um «diário pessoal» que consiste em fotografar prostitutas… prostituindo-se. É nessa enigmática e perversa personagem que a franco-libanesa Danielle Arbid se inspira para a sua segunda longa-metragem, Um Homem Perdido.
Em muitos países do Médio Oriente, a religião confunde-se com o Estado e há uma opressão sobre as mulheres, que se reflecte muitas vezes em trajes obrigatórios. Mesmo em regimes um pouco mais tolerantes, como a Síria ou a Jordânia, existe um forte conservadorismo moralista, impregnado na própria sociedade. Muitos desses países estão constantemente à beira de conflitos e são procurados por jornalistas e fotojornalistas na tentativa de denunciar realidades obscuras, como violações dos direitos humanos. São missões por vezes arriscadas, por se cruzarem com grupos fundamentalistas e leis de Estado implacáveis. Ironicamente, o fotógrafo Antoine d’Agata percorreu essas latitudes com um propósito realmente insólito. Sem fome de denúncia ou reportagem, sem sequer buscar exotismos, limitou-se a fazer um «diário pessoal» que consiste em fotografar prostitutas… prostituindo-se. É nessa enigmática e perversa personagem que a franco-libanesa Danielle Arbid se inspira para a sua segunda longa-metragem, Um Homem Perdido.As coordenadas são de tal forma bizarras que, a determinada altura, a realizadora faz questão de lembrar que as personagens estão junto à fronteira com o Iraque, ou seja, junto à mais anti-turística paragem do mundo. Tudo se passa entre a Jordânia e a Síria. Num Oriente que não nos está próximo, mas onde a personagem, de nacionalidade francesa, se desloca com à vontade, numa arrogância quase exibicionista.
Às tantas, explica-se a si próprio, dizendo que o seu coração não cabe numa só mulher, mas em muitas. O conceito pouco convence e pouco justifica. Mas a personagem mantém-se intrigante e progressivamente irritante. Toma-se a coisa como uma perversão libidinosa, pela qual corre perigos. Usa a câmara em vez de armas letais. Aliás, a máquina fotográfica é uma arma, muitas vezes mais eficaz do que as mais sofisticadas do exército americano (e o exército americano sabe disso). Mas não é só uma arma nesse sentido político-jornalístico-global, mas também em casos particulares. Em Triângulo, filme de uma tríade de realizadores chineses também em exibição, há um autêntico duelo com máquinas fotográficas de telemóveis.
Certos povos indígenas não se deixavam fotografar porque acreditavam que tal lhes roubaria a alma. Noutras sociedades não se chega a esse extremo. Mas é verdade que a câmara se associa ao poder, porque, à excepção de modelos e afins, é desconfortável estar debaixo de mira, e é bastante seguro ficar por trás da lente. Em extremo, a máquina pode servir para humilhar. Porque o fotógrafo tem o poder de congelar um instante do seu olhar sobre o outro, que pode ser malévolo. No filme, tal é usado de forma mais grave: há uma violentação por parte do fotógrafo, numa postura horripilantemente machista e sádica, como se, à força, quisesse despir as suas ’presas’ para além do corpo.
Um Homem Perdido é enriquecido por uma segunda personagem mais enigmática: um árabe que guarda segredos no olhar (Alexander Siddig é um actor extraordinário). E tal como nós, espectadores, o protagonista deseja desvendá-lo. Entra assim numa segunda perversão (se a primeira já era difícil de explicar, a segundo torna-se inexplicável) e, verdadeiramente, não o larga, num misto de abuso de poder e tensão homossexual. E o filme perde-se nessa nova demanda. Sobretudo no final que o aniquila. O que é pena, porque há pormenores, estéticos e não só, que mereciam uma melhor gestão do jogo entre mistérios e revelações.
A curiosidade em torno da película aumenta, sabendo que todo este universo másculo e machista é retratado por uma mulher. Danielle Arbid colocou-se na perspectiva do seu oponente e auto-infligiu-se, sem dó nem piedade. Mas a ambição da realizadora, que vive em Paris, era criar uma metáfora das relações desiguais entre o Ocidente e o Oriente. O vestido contra o nu, o que compra contra o que se vende, o poderoso contra o oprimido, o fotógrafo contra o fotografado… Mas não ficou bem focado ou enganou-se na lente…





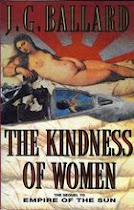























0 comentários:
Enviar um comentário