Listagens tão abstrusas e omissas como as que são aqui apresentadas dariam pano não para uma, mas várias teses de doutoramento no campo da Sociologia da Literatura. Tratam-se afinal de listagens contabilizadas a partir do voto de escritores. Ora os escritores, bons ou maus, têm a obrigação de acumular com esse estatuto o de melhores leitores – do que escrevem os seus pares e de si mesmos.
Aplaudamos isto e apenas isto: a lista de obras portuguesas é, com toda a justiça, encabeçada pelo Livro do Desassossego, a nossa única obra em prosa de alcance ecuménico (se descontarmos a Carta do Achamento do Brasil, de Pêro Vaz de Caminha), grande epopeia do desassossego universal e anónimo e única criação do espírito português com a magnitude dos Pensées, de Pascal ou dos Essais, de Montaigne. Pessoa ele próprio e os outros, juntos, dominam em toda a linha. A verdade é que Pessoa foi não só o único modernismo que tivemos digno desse nome (iniciado no século anterior, com Cesário) como é ainda o modernismo possível, sob cuja sombra continuamos a viver (para sempre?).
Do total domínio do século XX, com 31 obras em 42 listadas, conclui-se que os escritores portugueses ou não lêem os clássicos ou de uma forma geral consideram os clássicos inferiores a obras da contemporaneidade. O século de ouro da literatura quinhentista parece ser pouco apreciado: à excepção de Camões, nem Sá de Miranda, nem António Ferreira, nem sequer Bernardim Ribeiro, cujo nome ainda mereceu em 1998 três votos, tantos quanto este ano o inefável João Bénard da Costa. Nem se vislumbra qualquer trovador ou cancioneiro medieval. E, como seria de esperar, nenhum barroco à excepção de Vieira, cujos sermões merecem os mesmo quatro votos que as Poesias Completas, de O’Neill (e porquê O’Neill quando há Fernando Assis Pacheco? E porque continua a não ser lida a poesia de Nemésio ou de Sena?). Fialho de Almeida, Bocage ou Gomes Leal, esses, evaporaram-se. Quanto à Peregrinação, o nosso único livro «de aventuras», excepção feita às do “Eurico”, importadas da Escócia, cai da 4ª posição em 1998 para o fundo da tabela em 2008. Cronistas, só um, Lobo Antunes, pelos vistos maior neste reino que Fernão Lopes, outro evaporado. Mas o caso mais extraordinário é porventura o de Camilo, sem qualquer obra votada na lista de 2008, ele que há dez anos atrás foi o mais votado, à frente de Eça e Pessoa. Dez anos fizeram a Camilo o que cento e doze não haviam conseguido! Mulheres, só três, duas delas recentemente desaparecidas, Fiama e Sophia, que não estão a atravessar, ao contrário de Eugénio e Cesariny, o costumeiro limbo post mortem. Cesariny merece os mesmos três votos de Al Berto. Eugénio, o poeta português mais traduzido e estudado em todo o mundo desde Pessoa, aparece com seis votos. No mais impera o literariamente correcto.
Autores brasileiros, apenas dois, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Assim ficamos a saber o quanto valem por cá Machado de Assis, Drummond, João Cabral de Melo Neto ou Manuel Bandeira, bem como os esforços de Abel Barros Baptista (cf. o precioso Curso Breve de Literatura Brasileira) ou de Arnaldo Saraiva.
A carga poética na lista de obras portuguesas contrasta com a sua quase total ausência na lista de obras estrangeiras. Três obras em 28, se contarmos com a Odisseia, apesar das Elegias de Duíno surgirem em 2º lugar, com os mesmos votos das Memórias de Adriano. A pujança desta última obra, bem como dos proverbiais Cem Anos de Solidão, a ombrear com Virgínia Woolf, Thomas Mann e Dostoiesvski, ou de Italo Calvino, o terceiro autor mais votado logo a seguir a Shakespeare, vem mostrar que as escolhas dos nossos literatos não são muito diferentes das do político mediano.
Notável como já o era na lista de obras e autores portugueses é a ausência dos clássicos gregos e latinos: apenas a Odisseia e a Antígona. O recente investimento da Cotovia na tradução de clássicos não tem tido boa acolhida nas escrivaninhas dos nossos escritores: ausentes das listas ficaram, entre outros, Hesíodo, Píndaro, Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, Aristófanes, Petrónio, Virgílio ou Ovídeo. A ausência da Ilíada é, sem si mesma, todo um programa: os companheiros de Odysseus transformados em porcos por Circe ou o terno reconhecimento do herói pelo seu cão Argos causam mais impressão que um Príamo suplicante ou que o susto do filho de Heitor à vista do elmo do pai. A Ilíada, puro-sangue, parece nestas listas não ser sequer digna de ombrear com a mestiça Odisseia.
Salva a honra das listas, para além de Pessoa, o Moby Dick de Melville, a obra mais votada. Mas, assim sendo, somos levados a perguntar porque não há baleias brancas nos mares da nossa ficção (excepção feita ao Rui Zink) ou capitães obstinados na perseguição do seu destino, que é o de um povo, nós que até emprestamos a Melville a bravura dos marinheiros açorianos, num mar cuja metade, já se sabe, são lágrimas de Portugal? E possuindo nós, para mais, uma prodigiosa reserva de oceânicas desventuras na História Trágico-Marítima (fora da lista, é claro). Perguntamos ainda, em consonância, pela sorte do Huck Finn de Mark Twain e das obras-primas da «American Renaissance».
Da liga anglo-americana, nem Poe, nem Eliot nem Pound, nem D. H. Lawrence (o poeta, que o outro é de somenos) nem Thomas Hardy, nem Auden nem Yeats e, recuando aos românticos, nem Keats, Coleridge ou Wordsworth – pobre Lucy Gray! Do século XVIII nem William Blake se aproveitou – e tanto se traduz por cá The Tyger. Pior: dos «metafísicos» ingleses nem John Donne, o maior poeta da língua inglesa, se me permitem a inconfidência. Nem Chaucer. Nem Sterne (apesar das Viagens de Garrett). Se atentarmos em romancistas, vemos que posterior aos monstros Faulkner, Steinbeck e Conrad – cortesia da Biblioteca RTP e dos Livros Europa-América – só Paul Auster. Mas e então Bellow, Roth, Updike, Pynchon e essa senhora que em Portugal pelos vistos ninguém conhece, Eudora Welty? De fora da Europa, dos E.U.A. e da Rússia, só mesmo Borges – mau seria. Nem ao menos Basho, ainda hoje um dos poetas mais imitados no Ocidente, Portugal incluído. E Deus me livre de referir o «Mahabharata», o «Rubayat», ou o «Gilgamesh»!
Italianos, só dois (um deles nascido em Cuba): Calvino e Pavese. Fosse vivo Camões logo do outro olho cegaria, ou António Ferreira lho vazaria, chorando o dolce stil nuovo, pois de Pirandello, Leopardi, Dante, Boccacio, Petrarca, Ariosto, niente, apesar dos inestimáveis esforços quer de Vasco Graça Moura quer da Cavalo de Ferro, que bem pode relinchar de dor.
A Germânia anda na mó de cima, mas uma lista sem Hölderlin, Novalis ou Göethe, de que vale? Da vizinha Áustria aparece o escritor da moda, Musil, em detrimento de Thomas Bernhard ou Peter Handke. Da Checoslováquia, Kafka, mas da Polónia nem ao menos Wistawa Szymborska.
Da vizinha Espanha, o único clássico por cá apreciado é o D. Quixote (será por terem o Cura e o barbeiro poupado à queima o Palmeirim de Inglaterra?) perguntando nós pelo Lazarillo de Tormes ou La Celestina, ou por Quevedo e Garcilaso, ou por Unamuno e António Machado e outros da Geração de 98, para não falar da de 27, que alegadamente tanto influenciou a poesia portuguesa dos anos 40.
Trememos só de pensar na França: Proust e Camus não chegam para salvar a casa, ainda para mais com, respectivamente, menos três e um voto que Marguerite Yourcenar, autor francófilo que os escritores portugueses pelos vistos mais veneram. Mais que Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Chateaubriand, Voltaire, Rousseau, Mallarmé, Huysmans e por aí fora, todos fora das listas. E que diremos do teatro, senhores? Nem Gil Vicente, nem Calderón, nem Racine, nem Molière, nem Ibsen (supostamente em processo de redescoberta em Portugal), ó miséria! Nem ao menos a coqueluche de todo o português comuna e sindicalizado, o pobre Brecht! Só mesmo Beckett, aparte o continente Shakespeare. Mas porquê, ó Deus, porquê apenas o Hamlet na lista, quando Calvino tem direito a duas obras?
Menos mal anda a Rússia: Dostoiévski é o grande «vencedor», com 11 votos, mais um que Shakespeare, e o Crime e Castigo açambarca cinco votos – ainda assim atrás de O Quarteto de Alexandria. O machado de Roskolnikov continua a mexer com as nossas cabecinhas potencialmente criminosas, mesmo em tempos de CSI e de outras séries televisivas onde a morte pornográfica faz sucesso. Tolstoi aparece na lista de autores, mas poderíamos perguntar por Gogol, Púchkin, Ossip Mandelstan (mais três evaporados, mesmo com Filipe e Nina Guerra a darem o litro) ou por Akhmatova e Tsvetáieva.
Preocupante é o deficit de imaginação dos escritores-leitores portugueses, aqui exposto em toda a sua miséria. Sintoma comum, aliás, num país onde a arte de contar uma boa história – ressalvando Saramago, que tem a seu favor, mais do que o Prémio Nobel, o facto indesmentível de ser o nosso último grande efabulador – há muito se perdeu. E em cujas ficções já não há heróis, como se os leitores se devessem contentar com personagens à imagem e semelhança da modorra em que vivem. As ausências de Balzac, Flaubert, Dickens, Stendhal, Hugo e Maupassant só se podem compreender pelo desinteresse e pelo desinvestimento na nobilíssima e indispensável arte de efabular, pela resistência ao trabalho de imaginar uma boa história antes de pensar em contá-la com engenho e competência. As ficções aventurosas ou fantásticas ainda são menorizadas, ou as da liga da Ficção Científica, vendo bem a única narrativa legítima na era da genética e da astrofísica, e isto apesar de Mary Shelley, Fenimore Cooper, Defoe, Stevenson, Dumas père & fils, H. G. Weels, Meyrink, London, Lovecraft, Kipling, Jules Verne, Ray Bradbury, Isaac Asimov, Robert Heinlen, et caetera. Até nas leituras (dos seus escritores), portanto, Portugal é país de brandos costumes, e o leitor português um leitor suave. Queixa-se a intelligenzia do sucesso da ficção pseudo-histórica de supermercado. É natural: os leitores continuam a precisar de histórias para viver – os escritores é que pelos vistos não. Aqueles ainda querem ser entretidos, e com toda a razão. Somos feitos de tempo e de histórias, mas também somos nós que fazemos o tempo e as histórias.
Em conclusão, diremos que há muito escritor em Portugal por educar e cultivar. Combater a iliteracia dos portugueses? Absolutamente. Mas não devíamos começar por combatê-la nos próprios escritores?
quarta-feira, 11 de abril de 2007
Ler Melhor, Escrever de Novo, por Rui Lage
Publicada por Francisca Cunha Rêgo à(s) 15:03
Etiquetas: Livros da Vida
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)





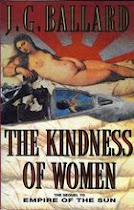























1 comentários:
Erudição extrema, sem dúvida, a de Francisca Cunha Rêgo. Mal, mal, fica o erro semântico, logo ao princípio:
Tratam-se (...) de listagens???
No, no, no!!! TRATA-SE de listagens - como com o verbo haver - singular: há/ houve, havia listagens
No melhor pano cai a nódoa, será?
Enviar um comentário